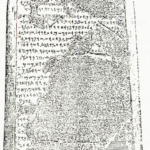Este texto foi lambido por 510 almas esse mês
1. O domínio do trabalho morto
Um defunto domina a sociedade – o defunto do trabalho. Todos os poderes ao redor do globo uniram-se para a defesa deste domínio: o Papa e o Banco Mundial, Tony Blair e Jörg Haider, sindicatos e empresários, ecologistas alemães e socialistas franceses. Todos eles só conhecem um lema: trabalho, trabalho, trabalho !
Os que ainda não desaprenderam a pensar reconhecem facilmente que esta postura é infundada. Pois a sociedade dominada pelo trabalho não passa por uma simples crise passageira, mas alcançou seu limite absoluto. A produção de riqueza desvincula-se cada vez mais, na seqüência da revolução microeletrônica, do uso de força de trabalho humano – numa escala que há poucas décadas só poderia ser imaginada como ficção científica. Ninguém poderá afirmar seriamente que este processo pode ser freado ou, até mesmo, invertido. A venda da mercadoria força de trabalho será no século XXI tão promissora quanto a venda de carruagens de correio no século XX. Quem, nesta sociedade, não consegue vender sua força de trabalho é considerado “supérfluo” e está sendo jogado no aterro sanitário social.
Quem não trabalha, não deve comer ! Este fundamento cínico vale ainda hoje – e agora mais do que nunca, porque tornou-se desesperançosamente obsoleto. É um absurdo: a sociedade nunca foi tanto sociedade do trabalho como nesta época em que o trabalho se faz supérfluo. Exatamente na sua fase terminal, o trabalho revela, claramente, seu poder totalitário, que não tolera outro deus ao seu lado. Até nos poros do cotidiano e nos íntimos da psique, o trabalho determina o pensar e o agir. Não se poupa nenhum esforço para prorrogar artificialmente a vida do deus-trabalho. O grito paranóico por “emprego” justifica até mesmo acelerar a destruição dos fundamentos naturais, já há muito tempo reconhecida. Os últimos impedimentos para a comercialização generalizada de todas as relações sociais podem ser eliminados sem crítica, quando é colocada em perspectiva a criação de alguns poucos e miseráveis “postos de trabalho”. E a frase, seria melhor ter “qualquer” trabalho do que nenhum, tornou-se a confissão de fé exigida de modo geral.
Quanto mais fica claro que a sociedade do trabalho chegou a seu fim definitivo, tanto mais violentamente este fim é reprimido na consciência da opinião pública. Os métodos desta repressão psicológica, mesmo sendo muito diferentes, têm um denominador comum: o fato mundial de o trabalho ter demonstrado seu fim em si mesmo irracional, que tornou-se obsoleto. Este fato vem redefinindo-se com obstinação em um sistema maníaco de fracasso pessoal ou coletivo, tanto de indivíduos quanto de empresas ou “localizações”. A barreira objetiva ao trabalho deve aparecer como um problema subjetivo daqueles que caíram fora do sistema.
Para uns, o desemprego é produto de exigências exageradas, falta de disponibilidade, aplicação e flexibilidade dos desempregados, enquanto outros acusam os “seus” executivos e políticos de incapacidade, corrupção, ganância ou traição do interesse local. Mas enfim, todos concordam com o ex-presidente alemão Roman Herzog: precisa-se de um “arranque”, como se o problema fosse semelhante ao de motivação de um time de futebol ou de uma seita política. Todos têm, “de alguma maneira”, que puxar a carroça, mesmo se ela não existir, e colocar toda energia para arregaçar as mangas, mesmo que não exista nada a ser feito ou somente algo sem sentido. As entrelinhas dessa mensagem infeliz deixam muito claro: quem não encontra a misericórdia do deus-trabalho tem a sua própria culpa e pode ser excluído, ou até mesmo descartado, com boa consciência.
A mesma lei do sacrifício humano vale em escala mundial. Um país após o outro é triturado sob as rodas do totalitarismo econômico, o que comprova sempre a mesma coisa: não atendeu às assim chamadas leis do mercado. Quem não se “adapta” incondicionalmente ao percurso cego da concorrência total, não levando em consideração qualquer dano, está sendo penalizado pela lógica da rentabilidade. Os portadores de esperança de hoje são o ferro-velho econômico de amanhã. Os psicóticos econômicos dominantes não se deixam perturbar em suas explicações bizarras do mundo. Aproximadamente três quartos da população mundial já foram declarados como lixo social. Uma “localização” após a outra cai no abismo. Depois dos desastrosos países “em desenvolvimento” do Hemisfério Sul e do departamento do capitalismo de Estado da sociedade mundial de trabalho no Leste, também os discípulos exemplares da economia de mercado no Sudoeste Asiático desapareceram no orco do colapso. Também na Europa se espalha há muito tempo o pânico social. Os cavaleiros da triste figura da política e do gerenciamento continuam em sua cruzada ainda mais ferrenhamente em nome do deus-trabalho.
“Cada um deve poder viver de seu trabalho: é o princípio posto. Assim, o poder-viver é determinado pelo trabalho e não há nenhuma lei onde esta condição não foi realizada.”
(Johann Gottlieb Fichte – Fundamentos do Direito Natural segundo os Princípios da Doutrina-da-Ciência, 1797)
2. A Sociedade Neoliberal de Apartheid
Uma sociedade centralizada na abstrata irracionalidade do trabalho desenvolve, obrigatoriamente, a tendência ao apartheid social quando o êxito da venda da mercadoria força de trabalho deixa de ser a regra e passa a exceção. Todas as facções do campo de trabalho, trespassando todos os partidos, já aceitaram dissimuladamente essa lógica e ainda a reforçam. Eles não brigam mais sobre se cada vez mais pessoas são empurradas para o abismo e excluídas da participação social, mas apenas sobre como impor a seleção.
A facção neoliberal deixa, confiantemente, o negócio sujo e social-darwinista na “mão invisível” do mercado. Neste sentido, estão sendo desmontadas as redes sócio-estatais para marginalizar, de preferência sem ruído, todos aqueles que não conseguem se manter na concorrência. Só estão sendo reconhecidos como seres humanos os que pertencem à irmandade dos ganhadores globais com seus sorrisos cínicos. Todos os recursos do planeta estão sendo usurpados sem hesitação para a máquina capitalista do fim em si mesmo. Se esses recursos não são mobilizados de uma maneira rentável eles ficam em “pousio”, mesmo quando, ao lado, grandes populações morrem de fome.
O incômodo do “lixo humano” fica sob a competência da polícia, das seitas religiosas de salvação, da máfia e dos sopões para pobres. Nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa Central, já existem mais pessoas na prisão do que na média das ditaduras militares. Na América Latina, estão sendo assassinadas diariamente mais crianças de rua e outros pobres pelo esquadrão da morte da economia de mercado do que oposicionistas nos tempos da pior repressão política. Aos excluídos só resta uma função social: a de ser um exemplo aterrorizante. O destino deles deve incentivar a todos os que ainda fazem parte da corrida de “peregrinação para a Jerusalém” da sociedade do trabalho na luta pelos últimos lugares. Este exemplo deve ainda incitar às massas de perdedores a manterem-se em movimento apressado, para que não tenham a idéia de se revoltarem contra as vergonhosas imposições.
Mas, mesmo pagando o preço da auto-resignação, o admirável mundo novo da economia de mercado totalitária deixou para a maioria das pessoas apenas um lugar, como homens submersos numa economia submersa. Submissos aos ganhadores bem remunerados da globalização, eles têm de ganhar sua vida como trabalhadores ultra baratos e escravos democratas na “sociedade de prestação de serviços”. Os novos “pobres que trabalham” têm o direito de engraxar o sapato dos businessmen da sociedade do trabalho ou de vendê-los hambúrguer contaminado, ou então, de vigiar o seu shopping center. Quem deixou seu cérebro na chapeleira da entrada até pode sonhar com uma ascensão ao posto de milionário prestador de serviços.
Nos países anglo-saxônicos, este mundo de horror já é realidade para milhões, no Terceiro Mundo e na Europa do Leste, nem se fala; e o continente do Euro mostra-se decidido a superar, rapidamente, esse atraso. As gazetas econômicas não fazem mais nenhum segredo sobre como imaginam o futuro ideal do trabalho: as crianças do Terceiro Mundo, que limpam os pára-brisas dos automóveis nos cruzamentos poluídos, são o modelo brilhante da “iniciativa privada”, que deveria servir de exemplo para os desempregados do deserto europeu da prestação de serviço. “O modelo para o futuro é o indivíduo como empresário de sua força de trabalho e de sua própria previdência social”, escreve a “Comissão para o Futuro dos Estados Livres da Baviera e da Saxônia”. E ainda: “a demanda por serviços pessoais simples é tanto maior quanto menos custam, isto é, quanto menos ganham os prestadores de serviço”. Num mundo em que ainda existisse auto-estima humana, uma frase deste tipo deveria provocar uma revolta social. Porém, num mundo de animais de trabalho domesticados, ela apenas provoca um resignado balançar de cabeça.
“O gatuno destruiu o trabalho e, apesar disso, tirou o salário de um trabalhador; agora, deve trabalhar sem salário, mas, mesmo no cárcere, deve pressentir a benção do êxito e do ganho(…) Ele deve ser educado para o trabalho moral enquanto um ato pessoal livre, através do trabalho forçado.”
(Wilhelm Heinrich Riehl – O trabalho alemão, 1861)
3. O Apartheid do Neo-Estado Social
As facções antineoliberais do campo de trabalho social podem não gostar muito desta perspectiva, mas exatamente para elas está definitivamente confirmado que um ser humano sem trabalho não é um ser humano. Fixados nostalgicamente no período pós-guerra fordista de trabalho em massa, eles não pensam em outra coisa a não ser em revitalizar os tempos passados da sociedade do trabalho. O Estado deveria endireitar o que o mercado não consegue mais. A aparente normalidade da sociedade do trabalho deve ser simulada através de “programas de ocupação”, trabalhos comunitários obrigatórios para pessoas que recebem auxílio social, subvenções de localizações, endividamento estatal e outras medidas públicas. Este estatismo de trabalho, agora requentado e hesitante, não tem a menor chance, mas continua como o ponto de referência ideológico para amplas camadas populacionais ameaçadas pela queda. Exatamente nesta total ausência de esperança, a práxis que resulta disso é tudo menos emancipatória.
A metamorfose ideológica do “trabalho escasso” em primeiro direito da cidadania exclui necessariamente todos os não-cidadãos. A lógica de seleção social não está sendo posta em questão, mas só redefinida de uma outra maneira: a luta pela sobrevivência individual deve ser amenizada por critérios étnico-nacionalistas. “Roda-Viva do trabalho nacional só para nativos” clama a alma popular que, no seu amor perverso pelo trabalho, encontra mais uma vez a comunidade nacional. O populismo de direita não esconde essa conclusão necessária. Na sociedade de concorrência, sua crítica leva apenas à limpeza étnica das áreas que encolhem em termos de riqueza capitalista.
Em oposição a isso, o nacionalismo moderado de cunho social-democrata ou verde permite aos antigos imigrantes de trabalho, quando estes se comportam de maneira adequada e inofensiva, tornarem-se cidadãos locais. Mas, a acentuada e reforçada rejeição de refugiados do Leste e do Sul pode, assim, ser legitimada de uma forma mais populista e silenciosa – o que fica obviamente sempre escondido por trás de um palavrório de humanidade e civilidade. A caça aos “ilegais”, que pretendem postos de trabalho nacionais, não deve deixar, se possível, nenhuma mancha indigna de sangue e de fogo em solo europeu. Para isso existe a polícia, a fiscalização militar de fronteira e os países tampões da “Schengenlândia”, que resolvem tudo conforme o direito e a lei e, de preferência, longe das câmeras de televisão.
A simulação estatal de trabalho é, por princípio, violenta e repressiva. Ela significa a manutenção da vontade de domínio incondicional do deus-trabalho, com todos os meios disponíveis, mesmo após sua morte. Este fanatismo burocrático de trabalho não deixa em paz nem aos que caíram fora – os sem-trabalho e sem-chances – nem todos aqueles que com boas razões rejeitam o trabalho, nos seus já horrivelmente apertados nichos do demolido Estado Social. Eles estão sendo arrastados para os holofotes do interrogatório estatal por assistentes sociais e funcionários da distribuição do trabalho e sendo obrigados a prestar reverência pública perante o trono do defunto-rei.
Se na justiça normalmente regera o fundamento “em dúvida, a favor do réu”, agora isso se inverteu. Se os que caíram fora futuramente não quiserem viver de ar ou de caridade cristã, precisam aceitar qualquer trabalho sujo ou de escravo e qualquer programa de “ocupação”, mesmo sendo o mais absurdo, para demonstrar a sua disposição incondicional para com o trabalho. Se aquilo que eles devem fazer tem ou não algum sentido, ou é o maior absurdo, de modo algum interessa. O que importa é que eles fiquem em movimento permanente para que nunca esqueçam a lei que sua existência tem que realizar.
Outrora, os homens trabalhavam para ganhar dinheiro. Hoje, o Estado não poupa gastos e custos para que centenas de milhares de pessoas simulem trabalhos em estranhas “oficinas de treinamento” ou “empresas de ocupação”, para que fiquem em forma para “postos de trabalho regulares” que nunca ocuparão. Inventam-se cada vez mais novas e mais estúpidas “medidas” só para manter a aparência da Roda-Viva do trabalho social que-gira-em-falso funcionando ad infinitum. Quanto menos sentido tem a coerção do trabalho, mais brutalmente insere-se nos cérebros humanos que não haverá mais nenhum pãozinho de graça.
Neste sentido, o “New Labour” e todos os seus imitadores demonstram-se, em todo o mundo, compatíveis inteiramente com o modelo neoliberal de seleção social. Pela simulação de “ocupação” e pelo fingimento de um futuro positivo da sociedade do trabalho, cria-se a legitimação moral para tratar de uma maneira mais dura os desempregados e os recusadores de trabalho. Ao mesmo tempo, a coerção estatal de trabalho, as subvenções salariais e os trabalhos assim chamados “cívicos e honoríficos” reduzem cada vez mais os custos de trabalho.
Desta maneira, incentiva-se maciçamente o setor canceroso de salários baixos e trabalhos miseráveis.
A assim chamada política ativa do trabalho, segundo o modelo do “New Labour”, não poupa nem mesmo doentes crônicos e mães solteiras com crianças pequenas. Quem recebe auxílio estatal só se livra do estrangulamento institucional quando pendura a plaquinha prateada no dedão do pé. O único sentido desta impertinência está em evitar-se o máximo possível que pessoas façam qualquer solicitação ao Estado e, ao mesmo tempo, demonstrar aos que caíram fora que, diante de tais instrumentos terríveis de tortura, qualquer trabalho miserável parece agradável.
Oficialmente, o Estado paternalista só chicoteia por amor, com intenção de educar severamente os seus filhos que foram denunciados como “preguiçosos”, em nome de seu próprio progresso. Na realidade, essas medidas “pedagógicas” só têm como objetivo afastar os fregueses de sua porta. Qual seria o sentido de obrigar os desempregados a trabalharem na colheita de aspargos? O sentido é afastar os trabalhadores sazonais poloneses que só aceitam os salários de fome dadas as relações cambiais, que os transformam em um pagamento aceitável. Mas, aos trabalhadores forçados essa medida é inútil e tampouco abre qualquer “perspectiva” profissional. E mesmo para os produtores de aspargos, os acadêmicos mal-humorados e os trabalhadores qualificados que lhes são enviados só significam um estorvo. Mas, se após a jornada de doze horas nos campos alemães, de repente aparecer como uma luz mais agradável a idéia maluca de ter, por desespero, um carrinho de cachorro-quente, então a “ajuda para a flexibilização” demonstrou seu efeito neobritânico desejável.
“Qualquer emprego é melhor do que nenhum.”
(Bill Clinton, 1998)
“Nenhum emprego é tão duro como nenhum.”
(Lema de uma exposição de cartazes da Divisão de Coordenação Federal da Iniciativa dos Desempregados da Alemanha, 1998)
“Trabalho civil deve ser gratificado e não remunerado… mas quem atua no trabalho civil também perde a mácula do desemprego e da recepção de auxílio social.”
(Ulrich Beck – A alma da democracia, 1997)
4. O agravamento e o desmentido da religião do trabalho
O novo fanatismo do trabalho, com o qual esta sociedade reage perante a morte de seu deus, é a continuação lógica e a etapa final de uma longa história. Desde os dias da Reforma, todas as forças basilares da modernização ocidental pregaram a santidade do trabalho. Principalmente durante os últimos 150 anos, todas as teorias sociais e correntes políticas estavam possuídas, por assim dizer, pela idéia do trabalho. Socialistas e conservadores, democratas e fascistas combateram-se até a última gota de sangue, mas, apesar de toda a animosidade, sempre levaram, em conjunto, sacrifícios ao altar do deus-trabalho. “Afastai os ociosos”, dizia o Hino Internacional do Trabalho – e “o trabalho liberta”, diziam aterrorizantemente os portões de Auschwitz. As democracias pluralistas do pós-guerra juraram ainda mais a favor da ditadura eterna do trabalho. Mesmo a Constituição do Estado da Baviera, arquicatólico, ensina aos seus cidadãos partindo do sentido da tradição luterana: “o trabalho é a fonte do bem-estar do povo e está sob proteção especial do Estado”. No final do século XX, quase todas as diferenças ideológicas desapareceram. Sobrou o dogma impiedoso, segundo o qual, o trabalho é a determinação natural do homem.
Hoje, a própria realidade da sociedade do trabalho desmente este dogma. Os sacerdotes da religião do trabalho sempre pregaram que o homem, por sua suposta natureza, seria um “animal laborans“. Somente tornar-se-ia ser humano na medida em que submetesse, como Prometeu, a matéria natural à sua vontade, realizando-se através de seus produtos. Este mito de explorador do mundo e demiurgo que tem sua vocação desde sempre foi um escárnio em relação ao caráter do processo moderno de trabalho, embora na época dos capitalistas-inventores, do tipo Siemens ou Edison e seus empregados qualificados, tinha ainda um substrato real. Hoje, este gesto é totalmente absurdo.
Quem hoje ainda se pergunta pelo conteúdo, sentido ou fim de seu trabalho vira louco – ou um fator de perturbação do funcionamento do fim em si da máquina social. O “homo faber“, antigamente orgulhoso de seu trabalho e com seu jeito limitado levando a sério o que fazia, hoje é tão fora de moda quanto a máquina de escrever mecânica. A Roda tem que girar de qualquer jeito, e basta. Para a invenção de sentido são responsáveis os departamentos de publicidade e exércitos inteiros de animadores e psicólogas de empresa, consultores de imagem e traficantes de drogas. Onde se balbucia continuamente um blablablá sobre motivação e criatividade, disso nada sobrou, a não ser auto-engano. Por isso, contam hoje as habilidades de auto-sugestão, auto-representação e simulação de competência como as virtudes mais importantes de executivos e trabalhadoras especializadas, estrelas da mídia e contabilistas, professoras e guardas de estacionamento.
Também a afirmação de que o trabalho seria uma necessidade eterna, imposta ao homem pela natureza, tornou-se, na crise da sociedade do trabalho, ridícula. Há séculos está sendo rezado que o deus-trabalho precisaria ser adorado porque as necessidades não poderiam ser satisfeitas por si próprias, isto é, sem o suor da contribuição humana. E o fim de todo este empreendimento de trabalho seria a satisfação de necessidades. Se isto fosse verdade, a crítica ao trabalho teria tanto sentido quanto a crítica da lei da gravidade. Pois, como uma “lei natural” efetivamente real pode entrar em crise ou desaparecer? Os oradores do campo de trabalho social – da socialite engolidora de caviar, neoliberal e maníaca por eficiência até o sindicalista barriga-de-chope – entram, com a sua pseudo-natureza do trabalho, em dificuldade de argumentação. Afinal, como eles querem nos explicar que hoje três quartos da humanidade estejam afundando no estado de calamidade e miséria somente porque o sistema social de trabalho não precisa mais de seu trabalho?
Não é mais a maldição do velho testamento – “comerás teu pão com o suor da tua face” – que pesa sobre os que caíram fora, mas uma nova e implacável condenação: “tu não comerás porque o teu suor é supérfluo e invendível”. E será isto uma lei natural? Não é nada mais que o princípio social irracional que aparece como coerção natural porque destruiu, ao longo dos séculos, todas as outras formas de relação social ou as submeteu e se impôs como absoluto. É a “lei natural” de uma sociedade que se considera muito “racional”, mas que, em verdade, apenas segue a racionalidade funcional de seu deus-trabalho, a cujas “coerções objetivas” está disposta a sacrificar o último resto de humanidade.
“Trabalho está, por mais baixo e mamonístico que seja, sempre em relação com a natureza. Só o desejo de executar trabalho já conduz cada vez mais à verdade e às leis e prescrições da natureza, que são a verdade.”
(Thomas Carlyle – Trabalhar e não desesperar, 1843)
5. Trabalho é um princípio coercitivo social
Trabalho não é, de modo algum, idêntico ao fato de que os homens transformam a natureza e se relacionam através de suas atividades. Enquanto houver homens, eles construirão casas, produzirão vestimentas, alimentos, tanto quanto outras coisas, criarão filhos, escreverão livros, discutirão, farão hortas, música etc. Isto é banal e se entende por si mesmo. O que não é óbvio é que a atividade humana em si, o puro “gasto de força de trabalho”, sem levar em consideração qualquer conteúdo e independente das necessidades e da vontade dos envolvidos, torne-se um princípio abstrato, que domina as relações sociais.
Nas antigas sociedades agrárias existiam as mais diversas formas de domínio e de relações de dependência pessoal, mas nenhuma ditadura do abstractum trabalho. As atividades na transformação da natureza e na relação social não eram, de forma alguma, autodeterminadas, mas também não eram subordinadas a um “gasto de força de trabalho” abstrato: ao contrário, integradas num conjunto de complexo mecanismo de normas prescritivas religiosas, tradições sociais e culturais com compromissos mútuos. Cada atividade tinha o seu tempo particular e seu lugar particular; não existia uma forma de atividade abstrata e geral.
Somente o moderno sistema produtor de mercadorias criou, com seu fim em si mesmo da metamorfose permanente de energia humana em dinheiro, uma esfera particular, “dissociada” de todas as outras relações e abstraída de qualquer conteúdo, a esfera do assim chamado trabalho – uma esfera da atividade dependente incondicional, desconectada e robótica, separada do restante contexto social e obedecendo a uma abstrata racionalidade funcional de “economia empresarial”, para além das necessidades. Nesta esfera separada da vida, o tempo deixa de ser tempo vivido e vivenciado; torna-se simples matéria-prima que precisa ser otimizada: “tempo é dinheiro”. Cada segundo é calculado, cada ida ao banheiro torna-se um transtorno, cada conversa é um crime contra o fim autonomizado da produção. Onde se trabalha, somente pode ser gasto energia abstrata. A vida se realiza em outro lugar, ou não se realiza, porque o ritmo do tempo de trabalho reina sobre tudo. As crianças já estão sendo domadas pelo relógio para terem algum dia “capacidade de eficiência”. As férias também só servem para a reprodução da “força de trabalho”. E mesmo na hora da refeição, na festa e no amor o ponteiro dos segundos toca no fundo da cabeça.
Na esfera do trabalho não conta o que se faz, mas que se faça algo enquanto tal, pois o trabalho é justamente um fim em si mesmo, na medida em que é o suporte da valorização do capital-dinheiro – o aumento infinito de dinheiro por si só. Trabalho é a forma de atividade deste fim em si mesmo absurdo. Só por isso, e não por razões objetivas, todos os produtos são produzidos como mercadorias. Pois somente nesta forma eles representam o abstractum dinheiro, cujo conteúdo é o abstractum trabalho. Nisto consiste o mecanismo da Roda-Viva social autonomizada, no qual a humanidade moderna está presa.
E por isso, o conteúdo da produção é indiferente tanto quanto a utilização dos produtos e as conseqüências sociais e naturais. Se casas são construídas ou campos minados produzidos, se livros são impressos, se tomates transgênicos são criados, se pessoas adoecem, se o ar está poluído ou se “apenas” o bom gosto é prejudicado – tudo isso não interessa. O que interessa, de qualquer modo, é que a mercadoria possa ser transformada em dinheiro e dinheiro em novo trabalho. Que a mercadoria exija um uso concreto, e que seja ele mesmo destrutivo, não interessa à racionalidade da economia empresarial, para ela o produto só é portador de trabalho pretérito, de “trabalho morto”.
A acumulação de “trabalho morto” como capital, representado na forma-dinheiro, é o único “sentido” que o sistema produtor de mercadorias conhece. “Trabalho morto”? Uma loucura metafísica! Sim, mas uma metafísica que se tornou realidade palpável, uma loucura “objetivada” que prende a sociedade com mão férrea. No eterno comprar e vender os homens não intercambiam enquanto seres sociais conscientes, mas apenas executam como autômatos sociais o fim em si mesmo pré-posto a eles.
“O trabalhador só se sente consigo mesmo fora do trabalho, enquanto que no trabalho se sente fora de si. Ele está em casa quando não trabalha, quando trabalha não está em casa. Seu trabalho, por isso, não é voluntário, mas constrangido, é trabalho forçado. Por isso, não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer necessidades exteriores a ele mesmo. A estranheza do trabalho revela sua forma pura no fato de que, desde que não exista nenhuma coerção física ou outra qualquer, foge-se dele como se fosse uma peste.”
(Karl Marx – Manuscritos Econômico-Filosóficos, 1844)
6. Trabalho e capital são os dois lados da mesma moeda
A esquerda política sempre adorou entusiasticamente o trabalho. Ela não só elevou o trabalho à essência do homem, mas também mistificou-o como pretenso contra-princípio do capital. O escândalo não era o trabalho, mas apenas a sua exploração pelo capital. Por isso, o programa de todos os “partidos de trabalhadores” foi sempre “libertar o trabalho” e não “libertar do trabalho”. A oposição social entre capital e trabalho é apenas uma oposição de interesses diferenciados (é verdade que de poderes muito diferenciados) internamente ao fim em si mesmo capitalista. A luta de classes era a forma de execução desses interesses antagônicos no seio do fundamento social comum do sistema produtor de mercadorias. Ela pertencia à dinâmica interna da valorização do capital. Se se tratava de luta por salários, por direitos, por condições de trabalho ou por postos de trabalho: o pressuposto cego continuava sempre sendo a Roda-Viva dominante com seus princípios irracionais.
Tanto do ponto de vista do trabalho quanto do capital, pouco importa o conteúdo qualitativo da produção. O que interessa é apenas a possibilidade de vender de forma otimizada a força de trabalho. Não se trata da determinação em conjunto sobre o sentido e o fim da própria atividade. Se houve algum dia a esperança de poder realizar uma tal autodeterminação da produção dentro das formas do sistema produtor de mercadorias, hoje as “forças de trabalho” já perderam, e há tempos, esta ilusão. Hoje interessa apenas o “posto de trabalho”, a “ocupação” – já esses conceitos comprovam o caráter de fim em si mesmo de todo esse empreendimento e a menoridade dos envolvidos.
O que, para que e com que conseqüências se produz, no fundo não interessa, nem ao vendedor da mercadoria força de trabalho, nem ao comprador. Os trabalhadores das usinas nucleares e das indústrias químicas protestam ainda mais veementemente quando se pretende desativar as suas bombas-relógio. E os “ocupados” da Volkswagen, Ford e Toyota são os defensores mais fanáticos do programa suicida automobilístico. Não só porque eles precisam obrigatoriamente se vender só para “poder” viver, mas porque eles se identificam realmente com a sua existência limitada. Para sociólogos, sindicalistas, sacerdotes e outros teólogos profissionais da “questão social”, este fato é a comprovação do valor ético-moral do trabalho. Trabalho forma a personalidade. É verdade. Isto é, a personalidade de zumbis da produção de mercadorias, que não conseguem mais imaginar a vida fora de sua Roda-Viva calorosamente amada, para a qual eles próprios se preparam diariamente.
Como tampouco era a classe trabalhadora, enquanto tal, a contradição antagônica ao capital e o sujeito da emancipação humana, tampouco também, por outro lado, os capitalistas e executivos dirigem a sociedade seguindo a maldade de uma vontade subjetiva de explorador. Nenhuma casta dominante viveu, em toda a história, uma vida tão miserável e não livre como os acossados executivos da Microsoft, Daimler-Chrysler ou Sony.
Qualquer senhorio medieval teria desprezado profundamente essas pessoas. Pois, enquanto ele podia se dedicar ao ócio e gastar mais ou menos em orgias a sua riqueza, as elites da sociedade do trabalho não podem se permitir nenhum intervalo. Mesmo fora da Roda-Viva, eles não sabem outra coisa para fazer consigo mesmos que infantilizarem-se. Ócio, gozo no reconhecimento, prazer sensual lhes são tão estranhos quanto o seu material humano. Eles mesmos são servos do deus-trabalho, meras elites funcionais do fim em si mesmo social irracional.
O deus dominante sabe impor sua vontade sem sujeito através da “coerção silenciosa” da concorrência, ao qual precisam se curvar também os poderosos, justamente mais ainda quando são os executivos de centenas de fábricas e transferem somas milionárias pelo globo. Se eles não fizerem isso, são colocados de lado do mesmo modo brutal como as “forças de trabalho” supérfluas. Mas é justamente sua menoridade que faz com que os funcionários do capital sejam tão incomensuravelmente perigosos, e não a sua vontade subjetiva de exploração. Eles têm menos direito de perguntar pelo sentido e pelas conseqüências de suas atividades infatigáveis, sentimentos e considerações não podem permitir a si mesmos. Por isso, eles falam de realismo quando devastam o mundo, fazem as cidades cada vez mais feias e deixam os homens empobrecerem no meio da riqueza.
“O trabalho tem cada vez mais a boa consciência ao seu lado: atualmente a inclinação para a alegria chama-se ‘necessidade de recreação’ e começa a ter vergonha de si mesma. ‘Deve-se fazer isto pela saúde’ – assim se diz quando se é surpreendido num passeio pelo campo. Pois logo poder-se-á chegar ao ponto em que a gente não mais ceda a uma inclinação para a vita contemplativa (isto é, a um passeio com pensamentos e amigos) sem má consciência e desprezo de si.”
(Friedrich Nietzsche – Ócio e Ociosidade, 1882)
7. Trabalho é domínio patriarcal
Mesmo que a lógica do trabalho e da sua metamorfose em matéria-dinheiro insista, nem todas as esferas sociais e atividades necessárias deixam-se embutir sob pressão na esfera do tempo abstrato. Por isso, surgiu junto com a esfera “separada” do trabalho, de certa forma como seu avesso, também a esfera privada doméstica, da família e da intimidade.
Nesta esfera definida como “feminina” restam as numerosas e repetidas atividades da vida cotidiana que não podem ser, a não ser excepcionalmente, transformadas em dinheiro: da faxina à cozinha, passando pela educação das crianças e a assistência aos idosos até o “trabalho de amor” da dona de casa típica ideal, que reconstrói seu marido trabalhador esgotado e que permite-lhe “encher seu tanque com sentimentos”. A esfera da intimidade, como avesso do trabalho, é declarada pela ideologia burguesa da família como o refúgio da “vida verdadeira” – mesmo se na realidade ela é, antes, um inferno da intimidade. Trata-se justamente não de uma esfera de vida melhor e verdadeira, mas de uma forma de existência tão reduzida quanto limitada, só com os sinais invertidos. Essa esfera é ela própria um produto do trabalho, cindida dele, mas só existente em relação a ele. Sem o espaço social cindido das formas de atividade “femininas”, a sociedade do trabalho nunca poderia ter funcionado. Este espaço é seu pressuposto silencioso e ao mesmo tempo seu resultado específico.
Isto vale também para os estereótipos sexuais que foram generalizados no decorrer do desenvolvimento do sistema produtor de mercadorias. Não é por acaso que se fortaleceu o preconceito em massa da imagem da mulher dirigida irracional e emocionalmente, natural e impulsiva, juntamente com a imagem do homem trabalhador, produtor de cultura, racional e autocontrolado. E também não é por acaso que o auto-adestramento do homem branco para as impertinências do trabalho e para sua administração humana estatal foi acompanhado por seculares e enfurecidas “caças às bruxas”. Simultaneamente a estas, inicia-se a apropriação do mundo pelas ciências naturais desde já contaminadas em suas raízes pelo fim em si mesmo da sociedade do trabalho e pelas atribuições de gênero. Dessa maneira, o homem branco, para poder “funcionar” sem atrito, expulsou de si mesmo todos os sentimentos e necessidades emocionais que, no reino do trabalho, só contam como fatores de perturbação.
No século XX, em especial nas democracias fordistas do pós-guerra, as mulheres foram cada vez mais integradas no sistema de trabalho, mas o resultado disso foi apenas a esquizo consciência feminina. Pois, de um lado, o avanço das mulheres na esfera de trabalho não poderia trazer nenhuma libertação, mas apenas o ajuste ao deus-trabalho, como entre os homens. De outro lado, continuou a existir ilesa a estrutura de “cisão”, e assim também as esferas das atividades ditas “femininas”, externas ao trabalho oficial. As mulheres foram submetidas, desta maneira, à carga dupla e, ao mesmo tempo, expostas a imperativos sociais totalmente antagônicos. Dentro da esfera do trabalho elas ficaram até hoje, na sua grande maioria, em posições mal pagas e subalternas.
Disso, nenhuma luta inerente ao sistema, por cotas femininas de carreira e oportunidades, pode mudar alguma coisa. A visão burguesa miserável de “unificação da profissão e família” deixa totalmente intocada a separação de esferas do sistema produtor de mercadorias, e com isso também a estrutura de “cisão” de gênero. Para a maioria das mulheres esta perspectiva não é vivenciável, para a minoria daquelas que “ganham melhor” ela torna-se uma posição pérfida de ganhador no apartheid social, na medida em que pode-se delegar o trabalho doméstico e a criação dos filhos a empregadas mal pagas (e “obviamente” femininas).
Na sociedade como um todo, a sagrada esfera burguesa da assim chamada vida privada e de família está, na verdade, sendo cada vez mais minada e degradada, porque a usurpação da sociedade do trabalho exige da pessoa inteira o sacrifício completo, a mobilidade e a adaptação temporal. O patriarcado não é abolido, mas passa por um asselvajamento na crise inconfessa da sociedade do trabalho. Na mesma medida em que o sistema produtor de mercadorias entra em colapso, as mulheres tornam-se responsáveis pela sobrevivência em todos os níveis, enquanto o mundo “masculino” prolonga simulativamente as categorias da sociedade do trabalho.
“A humanidade teve que se submeter a terríveis provações até que se formasse o eu, o caráter idêntico, determinado e viril do homem, e toda infância ainda é de certa forma a repetição disso”.
(Max Horkheimer & Theodor W. Adorno – Dialética do Esclarecimento )
8. Trabalho é a atividade da menoridade
Não só de fato, mas também conceitualmente, deixa-se demonstrar a identidade entre trabalho e menoridade. Até há poucos séculos, os homens tinham consciência do nexo entre trabalho e coerção social. Na maioria das línguas européias, o termo “trabalho” relaciona-se originalmente apenas com a atividade de uma pessoa juridicamente menor, do dependente, do servo ou do escravo. Nos países de língua germânica, a palavra “Arbeit” significa trabalho árduo de uma criança órfã e, por isso, serva. No latim, “laborare” significava algo como o “balançar do corpo sob uma carga pesada”, e em geral é usado para designar o sofrimento e o mau trato do escravo. As palavras românicas “travail”, “trabajo” etc. derivam-se do latim, “tripalium”, uma espécie de canga utilizada para a tortura e o castigo de escravos e outros não livres. A expressão idiomática alemã – “canga do trabalho” (”Joch der Arbeit”) – ainda faz lembrar este sentido.
“Trabalho”, por conseguinte, pela sua origem etimológica, não é sinônimo de uma atividade humana autodeterminada, mas aponta para um destino social infeliz. É a atividade daqueles que perderam sua liberdade. A ampliação do trabalho a todos os membros da sociedade é, por isso, nada mais que a generalização da dependência servil, e sua adoração moderna apenas a elevação quase religiosa deste estado.
Esta relação pôde ser reprimida com êxito e a impertinência social interiorizada, porque a generalização do trabalho foi acompanhada pela sua “objetivação” por meio do moderno sistema produtor de mercadorias: a maioria das pessoas não está mais sob o chicote de um senhor pessoal. A dependência social tornou-se uma relação abstrata do sistema e, justamente por isso, total. Ela pode ser sentida em todos os lugares, mas não é palpável. Quando cada um tornou-se servo, tornou-se ao mesmo tempo senhor, o seu próprio traficante de escravo e feitor. Todos obedecem ao deus invisível do sistema, o “Grande Irmão” da valorização do capital, que os subjugou sob o “tripalium”.
9. A história sangrenta da imposição do trabalho
A história da modernidade é a história da imposição do trabalho que deixou seu rastro amplo de devastação e horror em todo o planeta. Nunca a impertinência de gastar a maior parte de sua energia vital para um fim em si mesmo determinado externamente foi tão interiorizada como hoje. Vários séculos de violência aberta em grande escala foram precisos para torturar os homens a fim de fazê-los prestar serviço incondicional ao deus-trabalho.
O início, ao contrário do que se diz comumente, não foi a ampliação das relações de mercado com um conseqüente “crescimento do bem-estar”, mas sim a fome insaciável por dinheiro dos aparelhos do Estado absolutista, para financiar as primeiras máquinas militares modernas. Somente pelo interesse desses aparelhos, que pela primeira vez na história sufocaram toda uma sociedade burocraticamente, acelerou-se o desenvolvimento do capital mercantil e financeiro urbano, ultrapassando as formas comerciais tradicionais. Somente desta maneira, o dinheiro tornou-se o motivo social central e o abstractum trabalho uma exigência social central, sem levar em consideração as necessidades.
Não foi voluntariamente que a maioria dos homens passou a uma produção para mercados anônimos e assim a uma economia monetária generalizada, mas antes porque a fome absolutista por dinheiro monetarizou os impostos, aumentando-os simultaneamente de forma exorbitante. Não se precisava “ganhar dinheiro” para si mesmo, mas sim para o militarizado Estado de armas de fogo do início da modernidade, para sua logística e sua burocracia. Assim, e não de outra forma, nasceu o fim em si mesmo absurdo da valorização do capital e do trabalho.
Não demorou muito para que os impostos monetários e as taxas não fossem mais suficientes. Os burocratas absolutistas e os administradores do capital financeiro começaram a organizar coercitivamente os homens diretamente como material de uma máquina social para a transformação de trabalho em dinheiro. O modo tradicional de vida e de existência da população foi destruído; não porque esta população estava se “desenvolvendo” voluntariamente e de maneira autodeterminada, mas porque ela precisava servir como material humano para uma máquina de valorização já acionada. Os homens foram expulsos de suas roças à força de armas para dar lugar à criação de ovinos para as manufaturas de lã. Direitos antigos como a liberdade de caça, pesca e coleta de lenha nas florestas foram extintos. E quando as massas pauperizadas perambularam mendigando e roubando pelo território, foram, então, internadas em casas de trabalho e manufaturas para serem maltratadas com máquinas de tortura de trabalho e para adquirirem a pauladas uma consciência de escravos, a fim de se tornarem animais de trabalho obedientes.
Mas, também a transformação por etapas de seus vassalos em material do deus-trabalho fazedor de dinheiro não foi suficiente para os Estados absolutistas monstruosos. Eles ampliaram suas pretensões também a outros continentes. A colonização interna da Europa foi acompanhada pela colonização externa, primeiro nas duas Américas e em partes da África. Ali, os feitores do trabalho perderam definitivamente seus pudores. Em campanhas militares de roubo, destruição e extermínio sem precedentes, eles assaltaram os mundos recentemente “descobertos” – lá as vítimas nem eram consideradas seres humanos. Em sua aurora, o Poder europeu antropófago da sociedade do trabalho definiu as culturas estrangeiras subjugadas como “selvagens” e antropófagas.
Com isso, foi criada a lei de legitimação para eliminá-los ou escravizá-los aos milhões. A escravidão em sentido literal, que nas economias coloniais de plantation de matérias-primas ultrapassou em dimensões a escravidão antiga, faz parte dos crimes fundadores do sistema produtor de mercadorias. Ali foi utilizado em grande estilo, pela primeira vez, a “destruição através do trabalho”. Isso foi a segunda fundação da sociedade do trabalho. Com os “selvagens”, o homem branco, que já era marcado pelo autodisciplinamento, podia liberar o ódio de si próprio reprimido e seu complexo de inferioridade. Os “selvagens” pareciam-lhe com a “mulher”, isto é, semi-seres entre o homem e o animal, primitivos e naturais. Immanuel Kant supunha, com precisão lógica, que o babuíno saberia falar se quisesse, só não falava porque temia ser recrutado para o trabalho.
Este raciocínio grotesco joga uma luz reveladora sobre o Iluminismo. O ethos repressivo do trabalho da modernidade, que se baseou, em sua versão protestante original, na misericórdia divina e, a partir do Iluminismo, na lei natural, foi mascarado como “missão civilizatória”. Cultura, neste sentido, é submissão voluntária ao trabalho; e trabalho é masculino, branco e “ocidental”. O contrário, o não-humano, a natureza disforme e sem culura, é feminino, de cor e “exótico”, portanto, a ser colocado sob coerção. Numa palavra: o “universalismo” da sociedade do trabalho já é totalmente racista desde sua raiz. O abstractum trabalho universal só pode se autodefinir pelo distanciamento de tudo o que não está fundido a ele.
Não foram os pacíficos comerciantes das antigas rotas mercantis – de onde nasceu a burguesia moderna que, finalmente, herdou o absolutismo – que formaram o húmus social do “empresariado” moderno, mas sim os condottieri das ordas mercenárias do início da modernidade, os administradores do trabalho e das cadeias, os parceiros da coleta de impostos, os feitores de escravos e os agiotas. As revoluções burguesas do século XVIII e XIX não têm nenhuma relação com a emancipação; elas apenas reorganizaram as relações de poder internamente ao sistema de coerção criado, separaram as instituições da sociedade do trabalho dos interesses dinásticos ultrapassados e avançaram a sua objetivação e despersonalização. Foi a gloriosa Revolução Francesa que declarou com pathos específico o dever ao trabalho e introduziu, numa “lei de eliminação da mendicância”, novas prisões de trabalho.
Isto foi exatamente o contrário daquilo que pretendiam os movimentos sociais rebeldes, que cintilaram à margem das revoluções burguesas sem a elas se integrarem. Já muito antes, houve formas autônomas de resistência e rejeição com as quais a historiografia oficial da sociedade do trabalho e da modernização não soube como lidar.
Os produtores das antigas sociedades agrárias, que nunca concordaram completamente sem atritos com as relações de poder feudais, não queriam, de modo algum, conformar-se como “classe trabalhadora” de um sistema externo. Das guerras camponesas do século XV e XVI, até os levantes posteriormente denunciados como Ludditas, ou destruidores de máquinas, e a revolta dos tecelões da Silésia de 1844, ocorre uma seqüência de lutas encarniçadas de resistência contra o trabalho. A imposição da sociedade do trabalho e uma guerra civil – às vezes aberta, às vezes latente – no decorrer dos séculos, foram idênticas.
As antigas sociedades agrárias eram tudo menos paradisíacas. Mas a coerção monstruosa da invasão da sociedade do trabalho foi vivenciada, pela maioria, como piora e como “período de desespero”. Com efeito, apesar do estreitamento das relações, os homens ainda tinham algo a perder. O que, na falsa consciência do mundo moderno aparece inventado como uma calamitosa Idade Média de escuridão e praga foi, na realidade, o terror de sua própria história. Nas culturas pré e não-capitalistas, dentro e fora da Europa, o tempo de atividade de produção diária ou anual era muito mais reduzido do que hoje, para os “ocupados” modernos em fábricas e escritórios. Aquela produção estava longe de ser intensificada como na sociedade do trabalho, pois estava permeada por uma nítida cultura de ócio e de “lentidão” relativa. Excetuando-se catástrofes naturais, as necessidades básicas materiais estavam muito mais asseguradas do que em muitos períodos da modernização, e melhor também do que nas horríveis favelas do atual mundo em crise. Além disso, o poder não entrava tanto nos poros como nas sociedades do trabalho totalmente burocratizadas.
Por isso, a resistência contra o trabalho só poderia ser quebrada militarmente. Até hoje, os ideólogos da sociedade do trabalho dissimulam, afirmando que a cultura dos produtores pré-modernos não era “desenvolvida”, e que ela teria se afogado em seu próprio sangue. Os atuais esclarecidos democratas do trabalho responsabilizam por essas monstruosidades, preferencialmente, as “condições pré-democráticas” de um passado soterrado, com o qual eles não teriam nada a ver. Eles não querem admitir que a história terrorista originária da modernidade revela também a essência da atual sociedade do trabalho. A administração burocrática do trabalho e a integração estatal dos homens nas democracias industriais nunca puderam negar suas origens absolutistas e coloniais. Sob a forma de objetivação de uma relação impessoal do sistema, cresceu a administração repressiva dos homens em nome do deus-trabalho, penetrando em todas as esferas da vida.
Exatamente hoje, na agonia do trabalho, sente-se novamente a mão férrea burocrática, como nos primórdios da sociedade do trabalho. A administração do trabalho revela-se como o sistema de coerção que sempre fora, na medida em que organiza o apartheid social e procura eliminar, em vão, a crise através da democrática escravidão estatal. De modo semelhante, o absurdo colonial regressa na administração econômica coercitiva dos países seqüencialmente já arruinados da periferia através do Fundo Monetário Internacional. Após a morte de seu deus, a sociedade do trabalho relembra, em todos os aspectos, os métodos de seus crimes de fundação, que, mesmo assim, não a salvarão.
“O bárbaro é preguiçoso e diferencia-se do homem culto na medida em que fica mergulhado em seu embrutecimento, pois a formação prática consiste justamente no hábito e na necessidade de ocupação.”
(Georg W.F. Hegel – Princípios da Filosofia do Direito, 1821)
“No fundo agora se sente […], que um tal trabalho é a melhor polícia, pois detém qualquer um e sabe impedir fortemente o desenvolvimento da razão, da voluptuosidade e do desejo de independência. Pois ele faz despender extraordinariamente muita força de nervos, e despoja esta força da reflexão, da meditação, do sonhar, do inquietar-se, do amar e do odiar.”
(Friedrich Nietzsche – Os apologistas do trabalho, 1881)
10. O movimento dos trabalhadores era um movimento a favor do trabalho.
O movimento clássico dos trabalhadores, que viveu a sua ascensão somente muito tempo depois do declínio das antigas revoltas sociais, não lutou mais contra a impertinência do trabalho, mas desenvolveu uma verdadeira hiperidentificação com o aparentemente inevitável. Ele só visava a “direitos” e melhoramentos internos à sociedade do trabalho, cujas coerções já tinha amplamente interiorizado. Em vez de criticar radicalmente a transformação de energia em dinheiro como fim em si irracional, ele mesmo assumiu “o ponto de vista do trabalho” e compreendeu a valorização como um fato positivo e neutro.
Desta maneira, o movimento dos trabalhadores assumiu a herança do absolutismo, do protestantismo e do Iluminismo burguês. A infelicidade do trabalho tornou-se orgulho falso do trabalho, redefinindo como “direito humano”, o seu próprio adestramento enquanto material humano do deus moderno. Os hilotas domesticados do trabalho invertem ideologicamente, por assim dizer, a espada contra si, e desenvolvem um empenho missionário para, de um lado, reclamar o “direito ao trabalho” e de outro, reivindicar o “dever de trabalho para todos”. A burguesia não foi combatida como suporte funcional da sociedade do trabalho, mas ao contrário, insultada como parasitária exatamente em nome do trabalho. Todos os membros da sociedade, sem exceção, deveriam ser recrutados coercivamente nos “exércitos de trabalho”.
O próprio movimento dos trabalhadores tornou-se, assim, o marca-passo da sociedade do trabalho capitalista. Era ele que impunha os últimos degraus de objetivação contra os suportes funcionais burgueses limitados do século XIX e do início do século XX no processo de desenvolvimento do trabalho; de modo semelhante ao que a burguesia havia herdado do absolutismo um século antes. Isso só foi possível porque os partidos de trabalhadores e sindicatos relacionavam-se, no percurso de sua divinização do trabalho, também positivamente com o aparelho do Estado e com as instituições repressivas da administração do trabalho, que, afinal, eles não queriam suprimir, mas sim, numa certa “marcha através das instituições”, ocupar. Deste modo, assumiram, como anteriormente fizera a burguesia, as tradições burocráticas da administração de homens na sociedade do trabalho que vem desde o absolutismo.
Mas a ideologia de uma generalização social do trabalho exigia também uma nova relação política. Em lugar da divisão de estamentos com “direitos” políticos diferenciados (por exemplo, direito eleitoral censitário), na sociedade do trabalho apenas parcialmente imposta foi necessário que aparecesse a igualdade democrática geral do “Estado de trabalho” consumado. E os descompassos no percurso da máquina de valorização, a partir do momento em que esta determinasse toda a vida social, precisavam ser equilibrados por um “Estado Social”. Também para isso, o movimento dos trabalhadores forneceu o paradigma. Sob o nome de “social-democracia”, tornar-se-ia o maior movimento civil na história que, todavia, não poderia senão cavar sua própria cova. Pois na democracia tudo se torna negociável, menos as coerções da sociedade do trabalho que são axiomaticamente pressupostas. O que pode ser debatido são apenas as modalidades e os percursos destas coerções, sempre há apenas uma escolha entre Omo e Minerva em pó, entre peste e cólera, entre burrice e descaramento, entre Kohl e Schröder.
A democracia da sociedade do trabalho é o sistema de dominação mais pérfido da história – é um sistema de auto-opressão. Por isso, esta democracia nunca organiza a livre autodeterminação dos membros da sociedade sobre os recursos coletivos, mas sempre apenas a forma jurídica das mônadas de trabalho socialmente separadas entre si, que levam, na concorrência, sua pele ao mercado de trabalho. Democracia é o oposto de liberdade. E assim, os seres humanos de trabalho democráticos dividem-se, necessariamente, em administradores e administrados, empresários e empreendidos, elites funcionais e material humano. Os partidos políticos, em particular os partidos de trabalhadores, refletem fielmente essa relação na sua própria estrutura. Condutor e conduzidos, VIPs e o povão, militantes e simpatizantes apontam para uma relação que não tem mais nada a ver com um debate aberto e tomadas de decisão. É parte integral desta lógica sistêmica que as próprias elites só possam ser funcionárias dependentes do deus-trabalho e de suas orientações cegas.
No mínimo desde o nazismo, todos os partidos são partidos de trabalhadores e, ao mesmo tempo, partidos do capital. Nas “sociedades em desenvolvimento” do Leste e do Sul, o movimento dos trabalhadores transformou-se num partido de terrorismo estatal de modernização retardatária; no Ocidente, num sistema de “partidos populares” com programas facilmente substituíveis e figuras representativas na mídia. A luta de classes está no fim porque a sociedade do trabalho também está. As classes se mostram como categorias sociais funcionais do mesmo sistema fetichista, na mesma medida em que este sistema vai esmorecendo. Se sociais-democratas, verdes e ex-comunistas destacam-se na administração da crise desenvolvendo programas de repressão especialmente infames, mostram-se, com isto, como os legítimos herdeiros do movimento dos trabalhadores, que nunca quis nada além de trabalho a qualquer preço.
“Conduzir o cetro, deve o trabalho,
servo só deve ser quem no ócio insistir;
Governar o mundo, deve o trabalho,
pois só por ele pode o mundo existir.”
(Friedrich Stampfer, 1903)
11. A crise do trabalho
Após a Segunda Guerra Mundial, por um curto momento histórico pôde parecer que a sociedade do trabalho nas indústrias fordistas tivesse se consolidado num sistema de “prosperidade eterna”, no qual a insuportabilidade do fim em si coercitivo tivesse sido pacificada duradouramente pelo consumo de massas e pelo Estado Social. Apesar desta idéia sempre ter sido uma idéia hilótica e democrática, que só se referiria a uma pequena minoria da população mundial, nos centros ela também necessariamente fracassou. Na terceira revolução industrial da microeletrônica, a sociedade mundial do trabalho alcança seu limite histórico absoluto.
Que este limite seria alcançado mais cedo ou mais tarde, era logicamente previsível. Pois o sistema produtor de mercadorias sofre, desde seu nascimento, de uma autocontradição incurável. De um lado, ele vive do fato de sugar maciçamente energia humana através do gasto de trabalho para sua maquinaria: quanto mais, melhor. De outro lado, contudo, impõe, pela lei da concorrência empresarial, um aumento de produtividade, no qual a força de trabalho humano é substituída por capital objetivado cientificizado.
Esta autocontradição já foi a causa profunda de todas as crises anteriores, entre elas a desastrosa crise econômica mundial de 1929-33. Porém, estas crises podiam sempre ser superadas por um mecanismo de compensação: num nível cada vez mais elevado de produtividade, foram absorvidas em termos absolutos – após um certo tempo de incubação e através da ampliação de mercados integradora de novas camadas de consumidores – maiores quantidades de trabalho do que aquele anteriormente racionalizado. Reduziu-se o dispêndio de força de trabalho por produto, mas foram produzidos em termos absolutos mais produtos, de modo que a redução pôde ser sobrecompensada. Enquanto as inovações de produtos superaram as inovações de processos, a autocontradição do sistema pôde ser traduzida em um movimento de expansão.
O exemplo histórico de destaque é o automóvel: através da esteira e outras técnicas de racionalização da “ciência do trabalho” (primeiramente na fábrica de Henry Ford, em Detroit), reduziu-se o tempo de trabalho para cada automóvel em uma fração. Simultaneamente, o trabalho intensificou-se de maneira gigantesca, isto é, no mesmo intervalo de tempo foi absorvido material humano de forma multiplicada. Principalmente o automóvel, até então um produto de luxo para a alta sociedade, pôde ser incluído no consumo de massa por seu conseqüente barateamento.
Desta maneira, apesar da racionalização da produção em linha, a fome insaciável do deus-trabalho por energia humana foi satisfeita em nível superior. Ao mesmo tempo, o automóvel é um exemplo central para o caráter destrutivo do modo de produção e consumo altamente desenvolvido da sociedade do trabalho. No interesse de produção em massa de automóveis e de transporte individual em massa, a paisagem é asfaltada, impermeabilizada e torna-se feia, o meio ambiente é empestado e aceita-se, de maneira resignada, que nas estradas mundiais, ano após ano, seja desencadeada uma terceira guerra mundial não declarada com milhões de mortos e mutilados.
Na terceira revolução industrial da microeletrônica finda, o até então vigente, mecanismo de compensação pela expansão. É verdade que, obviamente, através da microeletrônica muitos produtos também são barateados e novos são criados (principalmente na esfera da mídia). Mas, pela primeira vez, a velocidade de inovação do processo ultrapassa a velocidade de inovação do produto. Pela primeira vez, mais trabalho é racionalizado do que o que pode ser reabsorvido pela expansão dos mercados. Na continuação lógica da racionalização, a robótica eletrônica substitui a energia humana, ou as novas tecnologias de comunicação tornam o trabalho supérfluo. Setores inteiros e níveis da construção civil, da produção, do marketing, do armazenamento, da distribuição e mesmo do gerenciamento caem fora. Pela primeira vez o deus-trabalho submete-se, involuntariamente, a uma ração de fome permanente. Com isso, provoca sua própria morte.
Uma vez que a sociedade democrática do trabalho é um sistema com o fim em si mesmo amadurecido e auto-reflexivo, não é possível dentro das suas formas uma alteração para uma redução da jornada geral. A racionalidade empresarial exige que massas cada vez maiores tornem-se “desempregadas” permanentemente e, assim, sejam cortadas da reprodução de sua vida imanente ao sistema. De outro lado, um número cada vez mais reduzido de “ocupados” são submetidos a uma caça cada vez maior de trabalho e eficiência. Mesmo nos centros capitalistas, no meio da riqueza voltam a pobreza e a fome, meios de produção e áreas agrícolas intactos ficam maciçamente em “pousio”, habitações e prédios públicos ficam maciçamente vazios, enquanto o número dos sem-teto cresce incessantemente.
Capitalismo torna-se um espetáculo global para minorias. Em seu desespero, o deus-trabalho, agonizante, tornou-se canibal de si mesmo. Em busca de sobras para alimentar o trabalho, o capital dinamita os limites da economia nacional e se globaliza numa concorrência nômade de repressão. Regiões mundiais inteiras são cortadas dos fluxos globais de capital e mercadorias. Numa onda de fusões e “integrações não amigáveis” sem precedentes históricos, os trustes se preparam para a última batalha da economia empresarial. Os Estados e Nações desorganizados implodem, as populações empurradas para a loucura da concorrência pela sobrevivência assaltam-se em guerras étnicas de bandos.
“O princípio moral básico é o direito do homem ao seu trabalho (…) a meu ver, não há nada mais detestável que uma vida ociosa. Nenhum de nós tem direito a isto. A civilização não tem lugar para ociosos.”
(Henry Ford)
“O próprio capital é a contradição em processo, pois tende a reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, enquanto põe, por outro lado, o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. (…) Assim, por um lado, evoca para a vida todos os poderes da ciência e da natureza, assim como da combinação e do intercâmbio social, para fazer com que a criação da riqueza seja (relativamente) independente do tempo de trabalho empregado nela. Por outro lado, pretende medir estas gigantescas forças sociais, assim criadas, pelo tempo de trabalho, e as conter nos limites exigidos para manter, como valor, o valor já criado.”
(Karl Marx – “Grundrisse” , 1857/58)
12. O fim da política
Necessariamente, a crise do trabalho tem como conseqüência a crise do Estado e, portanto, a da política. Por princípio, o Estado moderno deve a sua carreira ao fato de que o sistema produtor de mercadorias necessita de uma instância superior que lhe garanta, no quadro da concorrência, os fundamentos jurídicos normais e os pressupostos da valorização – sob inclusão de um aparelho de repressão para o caso de o material humano insubordinar-se contra o sistema. Na sua forma amadurecida de democracia de massa, o Estado no século XX precisava assumir, de forma crescente, tarefas sócio-econômicas: a isso não só pertence a rede social, mas também a saúde e a educação, a rede de transporte e comunicação, infra-estruturas de todos os tipos que são indispensáveis ao funcionamento da sociedade do trabalho industrial e que não podem ser propriamente organizadas como processo de valorização industrial. Pois as infra-estruturas precisam estar, permanentemente, à disposição no âmbito da sociedade total e cobrindo todo o território. Portanto, não podem seguir as conjunturas do mercado de oferta e demanda.
Como o Estado não é uma unidade de valorização autônoma, ele próprio não transforma trabalho em dinheiro, precisa retirar dinheiro do processo real da valorização. Esgotada a valorização esgotam-se também as finanças do Estado. O suposto soberano social apresenta-se totalmente dependente frente à economia cega e fetichizada da sociedade do trabalho. Ele pode legislar o quanto quiser; quando as forças produtivas ultrapassam o sistema de trabalho, o direito estatal positivo, o qual sempre só pode relacionar-se com sujeitos do trabalho, se esvai.
Com o crescente desemprego de massas, resseca-se a renda estatal proveniente dos impostos sobre os rendimentos do trabalho. As redes sociais se rompem logo que se alcança uma massa crítica de “supérfluos”, que apenas podem ser alimentados de modo capitalista através da redistribuição de outros rendimentos monetários. Na crise, com o processo acelerado de concentração do capital, que ultrapassa as fronteiras das economias nacionais, caem fora também as rendas estatais provenientes dos impostos sobre os lucros das empresas. Os trustes transnacionais obrigam os Estados que concorrem por investimentos a fazer dumping fiscal, social e ecológico.
É exatamente este desenvolvimento que permite o Estado democrático transformar-se em mero administrador de crises. Quanto mais ele se aproxima da calamidade financeira, tanto mais se reduz ao seu núcleo repressivo. As infra-estruturas se reduzem às necessidades do capital transnacional. Como antigamente nos territórios coloniais, a logística se limita, crescentemente, a alguns centros econômicos, enquanto o resto fica abandonado. O que dá para ser privatizado é privatizado, mesmo que cada vez mais pessoas fiquem excluídas dos serviços de provimento mais elementares. Onde a valorização do capital concentra-se em um número cada vez mais reduzido de ilhas do mercado mundial, não interessa mais o provimento cobrindo todo o território.
Enquanto não atinge diretamente esferas relevantes para a economia, não interessa se trens andam e as cartas chegam. A educação torna-se um privilégio dos vencedores da globalização. A cultura intelectual, artística e teórica é remetida aos critérios de mercado e padece aos poucos. A saúde não é financiável e se divide em um sistema de classes. Primeiro devagar e disfarçadamente, depois abertamente, vale a lei da eutanásia social: porque você é pobre e “supérfluo”, tem de morrer antes.
Enquanto todos os conhecimentos, habilidades e meios da medicina, educação e cultura estão à disposição em excesso como infra-estrutura geral, ficam reclusos conforme a lei irracional da sociedade do trabalho, objetivada como “restrição financeira”, desmobilizados e jogados no ferro-velho – assim como os meios de produção industriais e agrários que não são mais representáveis de forma rentável. O Estado democrático, transformado num sistema de apartheid, não tem mais nada a oferecer aos seus ex-cidadãos de trabalho além da simulação repressiva do trabalho, sob formas de trabalho coercitivo e barato, com redução de todos os benefícios. Num momento mais avançado, o Estado desmorona totalmente. O aparelho de Estado asselvaja-se sob a forma de uma cleptocracia corrupta, os militares sob a de um bando bélico mafioso e a polícia sob a de assaltante de estradas.
Este desenvolvimento não pode ser parado através de qualquer política do mundo e ainda menos ser revertido. Pois política é em sua essência uma ação relacionada ao Estado que torna-se, sob as condições de desestatização, sem objeto. A fórmula da democracia esquerdista da “configuração política” torna-se, dia após dia, mais ridícula. Fora a repressão infinita, a destruição da civilização e o auxílio ao “terror da economia”, não há mais nada a “configurar”. Como o fim em si mesmo da sociedade do trabalho é o pressuposto axiomático da democracia política, não pode haver nenhuma regulação política democrática para a crise do trabalho. O fim do trabalho torna-se o fim da política.
13. A simulação cassino-capitalista da sociedade do trabalho
A consciência social dominante engana-se, sistematicamente, sobre a verdadeira situação da sociedade do trabalho. As regiões de colapso são ideologicamente excomungadas, as estatísticas do mercado de trabalho são descaradamente falsificadas, as formas de pauperização são dissimuladas pela mídia. Simulação é, sobretudo, a característica central do capitalismo em crise. Isto vale também para a própria economia. Se pelo menos nos países centrais ocidentais até agora parecia que o capital seria capaz de acumular mesmo sem trabalho, e que a forma pura do dinheiro sem substância poderia garantir a contínua valorização do valor, então esta aparência deve-se a um processo de simulação nos mercados financeiros. Como reflexo da simulação do trabalho através de medidas coercitivas da administração democrática do trabalho, formou-se uma simulação da valorização do capital através da desconexão especulativa do sistema creditício e dos mercados acionários da economia real.
A utilização de trabalho presente é substituída pela usurpação da utilização de trabalho futuro, o qual nunca realizar-se-á. Trata-se, de certo modo, de uma acumulação de capital num fictício “futuro do subjuntivo (composto)”. O capital-dinheiro, que não pode mais ser reinvestido de forma rentável na economia real e que, por isso, não pode absorver mais trabalho, precisa se desviar, reforçadamente, para os mercados financeiros.
Já o impulso fordista da valorização, nos tempos do “milagre econômico” após a Segunda Guerra, não era totalmente auto-sustentável. Muito além de suas receitas fiscais, o Estado tomava crédito em quantidades até então desconhecidas, pois as condições estruturais da sociedade do trabalho não eram mais financiáveis de outra maneira. O Estado penhorou todas as suas receitas reais futuras. Desta maneira surgiu, de um lado, uma possibilidade de investimento capitalístico financeiro para o capital-dinheiro “excedente” – emprestava-se ao Estado com juros. O Estado pagava os juros com novos empréstimos e reenviava o dinheiro emprestado imediatamente para o circuito econômico. De outro lado, ele financiava, então, os custos sociais e os investimentos de infra-estrutura, criando uma demanda artificial, no sentido capitalista, pois sem a cobertura de nenhum dispêndio produtivo de trabalho. O boom fordista foi, assim, prolongado além de seu próprio alcance, na medida em que a sociedade do trabalho sangrava o seu próprio futuro.
Este momento simulativo do processo de valorização, aparentemente ainda intacto, já alcançou seus limites junto com o endividamento estatal. Não só no Terceiro Mundo, mas também nos centros, as “crises da dívida” estatais não permitiram mais a expansão deste procedimento. Este foi o fundamento objetivo para a caminhada vitoriosa da desregulação neoliberal que, conforme sua ideologia, seria acompanhada de uma redução drástica da cota estatal no produto social. Na verdade, desregulamentação e redução das obrigações do Estado são compensadas pelos custos da crise, mesmo que seja em forma de custos estatais de repressão e simulação. Em muitos Estados, a cota estatal até aumenta.
Mas a acumulação subseqüente do capital não pode mais ser simulada através do endividamento estatal. Por isso, transfere-se, desde os anos 80, a criação complementar do capital fictício para os mercados de ações. Ali, há tempos, não se trata mais de dividendos, da participação nos ganhos da produção real, mas antes, de ganhos de cotação, por aumento especulativo do valor dos títulos de propriedade em escalas astronômicas. A relação entre a economia real e o movimento especulativo do mercado financeiro virou-se de cabeça para baixo. O aumento especulativo da cotação não antecipa mais a expansão da economia real, mas ao contrário, a alta da criação fictícia de valor simula uma acumulação real que já não existe mais.
O deus-trabalho está clinicamente morto, mas recebe respiração artificial através da expansão aparentemente autonomizada dos mercados financeiros. Há tempos, empresas industriais têm ganhos que já não resultam da produção e da venda de produtos reais – o que já se tornou um negócio deficitário – mas sim, da participação feita por um departamento financeiro “esperto” na especulação de ações e divisas. Os orçamentos públicos demonstram entradas que não resultam de impostos ou tomadas de créditos, mas da participação aplicada da administração financeira nos mercados de cassino. Os orçamentos privados, nos quais as entradas reais de salários reduziram-se dramaticamente, conseguem manter ainda um consumo elevado através dos empréstimos dos ganhos nos mercados acionários. Cria-se, assim, uma nova forma de demanda artificial que, por sua vez, tem como conseqüência uma produção real e uma receita estatal real “sem chão para os pés”.
Desta maneira, a crise econômica mundial está sendo adiada pelo processo especulativo; mas, como o aumento fictício do valor dos títulos de propriedade só pode ser antecipação de utilização ou futuro dispêndio real de trabalho (em escala astronômica correspondente) – o que nunca mais será feito – então, o embuste objetivado será desmascarado, necessariamente, após um certo tempo de encubação. O colapso dos “emerging markets” na Ásia, na América Latina e no Leste Europeu forneceu apenas o primeiro gostinho. É apenas uma questão de tempo para que entrem em colapso os mercados financeiros dos centros capitalistas dos EUA, UE e Japão.
Este contexto é percebido de uma forma totalmente distorcida na consciência fetichizada da sociedade do trabalho e, principalmente, na dos “críticos do capitalismo” tradicionais da esquerda e da direita. Fixados no fantasma do trabalho, que foi enobrecido enquanto condição existencial suprahistórica e positiva, confundem, sistematicamente, causa e efeito. O adiamento temporário da crise, pela expansão especulativa dos mercados financeiros, aparece, assim, de forma invertida, como suposta causa da crise. Os “especuladores malvados”, assim chamados na hora do pânico, arruinariam toda a sociedade do trabalho porque gastam o “bom dinheiro” que “existe de sobra” no cassino, ao invés de investirem de uma maneira sólida e bem comportada em maravilhosos “postos de trabalho”, a fim de que uma humanidade louca por trabalho pudesse ter o seu “pleno emprego”.
Simplesmente não entra nestas cabeças que, de modo algum, a especulação fez os investimentos reais pararem, mas estes já se tornaram não rentáveis em decorrência da terceira revolução industrial, e o decolar especulativo é apenas um sintoma disso. O dinheiro que aparentemente circula em quantidades infinitas já não é, mesmo no sentido capitalista, um “bom dinheiro”, mas apenas “ar quente” com o qual a bolha especulativa foi levantada.
Cada tentativa de estourar esta bolha, via qualquer projeto de medida fiscal (imposto Tobin etc.) para dirigir o capital-dinheiro novamente para as Rodas pretensamente “corretas” e reais da sociedade do trabalho, só pode levá-la a estourar mais rapidamente.
Em vez de compreenderem que nós todos tornaremo-nos, incessantemente, não rentáveis, e que por isso, precisam ser atacados tanto o próprio critério da rentabilidade quanto os fundamentos da sociedade do trabalho, preferem satanizar os “especuladores”. Esta imagem barata de inimigo, cultivam em uníssono radicais da direita e autônomos da esquerda, funcionários sindicalistas pequenos burgueses e nostálgicos keynesianos, teólogos sociais e apresentadores de talk shows, enfim, todos os apóstolos do “trabalho honrado”. Poucos estão conscientes de que se está apenas a um pequeno passo deste ponto até a remobilização da loucura anti-semita. Apelar ao capital real “produtivo” e “de sangue nacional” contra o capital-dinheiro “judaico”, internacional e “usurário” – esta ameaça ser a última palavra da “esquerda dos postos de trabalho”, intelectualmente perdida. De qualquer maneira, esta já é a última palavra da “direita dos postos de trabalho”, desde sempre racista, anti-semita e antiamericana.
“Tão logo o trabalho, na sua forma imediata, tiver deixado de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa, e tem de deixar, de ser a sua medida, e, por isso, o valor de troca (a medida) do valor de uso.(…) Em virtude disso, a produção fundada no valor de troca desmorona e o próprio processo de produção material imediato se despoja da forma do carecimento e da oposição.”
(Karl Marx – “Grundrisse”, 1857/58)
14. Trabalho não se deixa redefinir
Após séculos de adestramento, o homem moderno simplesmente não consegue imaginar uma vida além do trabalho. Como princípio imperial, o trabalho domina não só a esfera da economia no sentido estrito, mas permeia toda a existência social até os poros do cotidiano e da existência privada. O “tempo livre”, que por sua própria semântica já é um termo de presídio, serve, há tempos, para “trabalhar” mercadorias e, assim, garantir a venda necessária.
Mas, mesmo além do dever interiorizado do consumo de mercadorias como fim em si mesmo, a sombra do trabalho põe-se sobre o indivíduo moderno também fora do escritório e da fábrica. Tão somente por levantar-se da poltrona da TV e tornar-se ativo, qualquer ação efetuada transforma-se em algo semelhante ao trabalho. O jogger substitui o relógio de ponto pelo cronômetro. Nas academias reluzentes, a Roda-Viva vivencia o seu renascimento pós-moderno, e os motoristas nas férias fazem tantos e tantos quilômetros como se fossem alcançar a cota anual de um caminhoneiro. E mesmo o trepar se orienta pelas normas DIN (ISO 9000) da pesquisa sexual e pelos padrões de concorrência das fanfarronices dos talk shows.
Se o rei Midas ao menos ainda vivenciava como maldição o fato de que tudo em que tocava virava ouro, o seu companheiro de sofrimento moderno já ultrapassou esse estado. O homem do trabalho nem nota mais que, pela adaptação ao padrão do trabalho, cada atividade perde sua qualidade sensível específica e torna-se indiferente. Ao contrário, ele dá sentido, razão de existência e significado social a alguma atividade somente através desta adaptação à indiferença do mundo da mercadoria. Com um sentimento como o luto, o sujeito do trabalho não sabe o que fazer; todavia, a transformação do luto em “trabalho de luto” faz desse corpo estranho emocional algo conhecido, através do qual se pode intercambiar com seus semelhantes. Até mesmo sonhar torna-se “trabalho de sonho”, o conflito com a pessoa amada torna-se “trabalho de relação” e o trato de crianças é desrealizado e indiferenciado como “trabalho de educação”. Sempre que o homem moderno insiste em fazer algo com “seriedade”, tem na ponta da língua a palavra “trabalho”.
O imperialismo do trabalho tem seus reflexos na linguagem cotidiana. Não só temos o hábito de inflacionar a palavra “trabalho”, mas a usamos em dois níveis de significância totalmente diferentes. Faz tempo que o “trabalho” não significa mais (como seria adequado) a forma de atividade capitalista da Roda do fim em si mesmo, antes este conceito torna-se, escondendo seus rastros, sinônimo de qualquer atividade com objetivo.
A falta de foco conceitual prepara o solo para uma crítica à sociedade do trabalho tão corriqueira e de meia-tigela que opera exatamente de modo oposto, isto é, toma como ponto de partida uma interpretação positiva do imperialismo do trabalho. Por incrível que pareça, a sociedade do trabalho é acusada de ainda não dominar suficientemente a vida com a sua forma de atividade, porque, pretensamente, ela definiria o conceito de trabalho de modo “muito estreito”, isto é, excomungando moralmente o “trabalho para si mesmo” ou o trabalho enquanto “auto-ajuda não-remunerada” (trabalho doméstico, ajuda da vizinhança etc.). Ela aceita, como “efetivo”, apenas o trabalho-emprego, conforme a dinâmica do mercado. Uma reavaliação e uma ampliação do conceito de trabalho deveria eliminar esta fixação unilateral e as hierarquizações ligadas a ela.
Este pensamento não trata da emancipação das coerções dominantes, mas somente de uma correção semântica. A ilimitada crise da sociedade do trabalho deveria ser solucionada pela consciência social através da elevação “efetiva” das formas de atividade, até então inferiores e laterais à esfera da produção capitalista, ao estado do nobre trabalho. Mas a inferioridade destas atividades não é somente resultado de uma determinada maneira ideológica de perceber, mas pertence à estrutura fundamental do sistema capitalista e não pode ser superada por redefinições morais simpáticas.
Numa sociedade dominada pela produção de mercadorias com o fim em si mesmo, só vale como riqueza propriamente dita o que é representável na forma monetária. O conceito de trabalho, assim determinado, brilha de modo imperial sobre todas as outras esferas, mas apenas negativamente, à medida que revela estas esferas como dependentes de si. Assim, as esferas externas à produção de mercadorias ficam necessariamente na sombra da esfera da produção capitalista, porque não são absorvidas pela lógica abstrata empresarial de economia de tempo – mesmo, e exatamente, quando elas são necessárias para a vida, como no caso da esfera de atuação cindida e definida como feminina, doméstica privada, de dedicação pessoal etc.
Ao invés de sua crítica radical, uma ampliação moralizante do conceito de trabalho não só vela o imperialismo social real da economia produtora de mercadorias, mas integra-se também perfeitamente nas estratégias autoritárias da administração estatal da crise. A reivindicação feita desde os anos 70 para que o “trabalho doméstico” e as atividades do “terceiro setor” também devessem ser reconhecidos socialmente como trabalhos válidos, especula, desde o primeiro momento, uma remuneração estatal em dinheiro. O Estado em crise inverte a espada e mobiliza o ímpeto moral desta reivindicação no sentido do afamado “princípio de subsídio”, exatamente contra as suas expectativas materiais.
O cântico dos cânticos da “função honorífica” e do “trabalho voluntário” não trata da permissão de mexer nas panelas financeiras quase vazias do Estado, mas torna-se álibi para a recuada do Estado aos programas, agora em marcha, de trabalho coercitivo e para a tentativa sórdida de passar o peso da crise, principalmente, para as mulheres. As instituições sociais oficiais abandonam a sua responsabilidade social com o apelo tão amigável quanto gratuito a “nós todos”, faça o favor, para combater, por iniciativa privada, tanto a própria miséria quanto a dos outros, sem fazer nenhuma reivindicação material. Assim, mal entendido como programa de emancipação, o malabarismo definidor do santificado conceito de trabalho abre as portas à tentativa estatal de suprimir o trabalho assalariado através da eliminação do salário com a simultânea manutenção do trabalho na terra queimada da economia de mercado. Comprova-se, assim, involuntariamente, que a emancipação social não pode ter como conteúdo a revalorização do trabalho, mas unicamente a consciente desvalorização do trabalho.
“Ao lado dos serviços materiais, também os serviços pessoais e simples podem elevar o bem-estar imaterial. Assim, pode-se elevar o bem-estar de um cliente quando um prestador de serviço retira-lhe trabalho que ele próprio teria de fazer. Ao mesmo tempo, eleva-se o bem-estar dos prestadores de serviço quando o seu sentimento de auto-estima se eleva através da atividade. Exercer um serviço simples e relacionado a uma pessoa é melhor à psique que estar desempregado.”
(Relatório da Comissão para Questões do Futuro dos Estados Livres da Baviera e da Saxônia, 1997)
“Preserve o conhecimento comprovado no trabalho, pois a própria natureza confirma este conhecimento, diz sim a ele. No fundo, você não tem outro conhecimento a não ser aquele que foi adquirido através do trabalho, o resto é uma hipótese do saber.”
(Thomas Carlyle – Trabalhar e não desesperar, 1843).
15. A crise da luta de interesses
Mesmo que a crise fundamental do trabalho seja reprimida ou transformada em tabu, ela cunha todos os conflitos sociais atuais. A transição de uma sociedade de integração de massas para uma ordem de seleção e apartheid não levou a uma nova rodada da velha luta de classes entre capital e trabalho, mas a uma crise categorial da própria luta de interesses imanente ao sistema. Já na época da prosperidade, após a Segunda Guerra Mundial, a antiga ênfase da luta de classes empalideceu. Mas não porque o sujeito revolucionário “em si” foi “integrado” ao questionável bem-estar através de manipulações e corrupção, mas ao contrário, porque veio à tona, no estado de desenvolvimento fordista, a identidade lógica de capital e trabalho enquanto categorias sociais funcionais de uma forma fetichista social comum. O desejo imanente ao sistema de vender a mercadoria força de trabalho em melhores condições possíveis perdeu qualquer momento transcendente.
Se, até os anos 70, tratava-se ainda da luta pela participação de camadas mais amplas possíveis da população nos frutos venenosos da sociedade do trabalho, este impulso foi apagado sob as novas condições de crise da terceira revolução industrial. Somente enquanto a sociedade do trabalho expandiu-se foi possível desencadear a luta de interesses de suas categorias sociais funcionais em grande escala. Porém, na mesma medida em que a base comum desapareceu, os interesses imanentes ao sistema não puderam mais ser reunidos ao nível da sociedade geral. Inicia-se uma dessolidarização generalizada. Os assalariados desertam dos sindicatos, as executivas desertam das confederações empresariais. Cada um por si e o deus-sistema capitalista contra todos: a individualização sempre suplicada é nada mais do que um sintoma de crise da sociedade do trabalho.
Enquanto interesses ainda podiam ser agregados, o mesmo só se dava em escala microeconômica. Pois, na mesma medida em que, ironicamente, a permissão para embutir a própria vida no âmbito econômico empresarial desdobrou-se de libertação social em quase um privilégio, as representações de interesse da mercadoria força de trabalho degeneraram numa política inescrupulosa de lobbies de segmentos sociais cada vez menores. Quem aceita a lógica do trabalho tem, agora, de aceitar a lógica do apartheid. Ainda trata-se, somente, de assegurar a venalidade de sua própria pele para uma clientela restrita, às custas de todos os outros. Há tempos, empregados e membros de conselhos das empresas não encontram mais seus verdadeiros adversários entre os executivos de sua empresa, mas entre os assalariados de empresas e de “localizações” concorrentes, tanto faz se na cidade vizinha ou no Extremo Oriente. E, quando se coloca a questão: quem será sacrificado no próximo impulso da racionalização econômica empresarial, também o departamento vizinho e o colega imediato tornam-se inimigos.
A dessolidarização radical atinge não apenas o conflito empresarial e sindical. Mas, justamente quando na crise da sociedade do trabalho todas as categorias funcionais insistem ainda mais fanaticamente na sua lógica inerente, isto é, que todo o bem-estar humano só possa ser o mero produto residual da valorização rentável, então o princípio de São Floriano domina todos os conflitos de interesse. Todos os lobbies conhecem as regras do jogo e agem conforme tais regras. Cada dólar que a outra clientela recebe, é um dólar perdido para a sua própria clientela. Cada ruptura do outro lado da rede social aumenta a chance de prolongar o seu próprio prazo para a forca. O aposentado torna-se o adversário natural do contribuinte, o doente o inimigo de todos os assegurados e o imigrante objeto de ódio de todos os nativos enfurecidos.
A pretensão de querer utilizar a luta de interesses imanentes ao sistema como alavanca de emancipação social esgota-se irreversivelmente. Assim, a esquerda clássica está no seu fim. O renascimento de uma crítica radical do capitalismo pressupõe a ruptura categorial com o trabalho. Unicamente quando se põe um novo objetivo da emancipação social além do trabalho e de suas categorias fetichistas derivadas (valor, mercadoria, dinheiro, Estado, forma jurídica, nação, democracia etc.), é possível uma ressolidarização a um nível mais elevado e na escala da sociedade como um todo. Somente nesta perspectiva podem ser reagregadas lutas defensivas imanentes ao sistema contra a lógica da lobbização e da individualização; agora, contudo, não mais na relação positiva, mas na relação negadora estratégica das categorias dominantes.
Até agora, a esquerda tenta fugir desta ruptura categorial com a sociedade do trabalho. Ela rebaixa as coerções do sistema a meras ideologias e a lógica da crise a um mero projeto político dos “dominantes”. Em lugar da ruptura categorial, aparece a nostalgia social-democrata e keynesiana. Não se pretende uma nova universalidade concreta da formação social além do trabalho abstrato e da forma-dinheiro, bem ao contrário, a esquerda tenta manter forçosamente a antiga universalidade abstrata dos interesses imanentes ao sistema. Essas tentativas continuam abstratas e não conseguem mais integrar nenhum movimento social de massas porque passam despercebidas nas relações reais de crise.
Em particular, isto vale para a reivindicação de renda mínima ou de dinheiro para subsistência. Em vez de ligar as lutas sociais concretas defensivas contra determinadas medidas do regime de apartheid com um programa geral contra o trabalho, esta reivindicação pretende construir uma falsa universalidade de crítica social, que se mantém em todos os aspectos abstrata, desamparada e imanente ao sistema. A concorrência social de crise não pode ser superada assim. De uma maneira ignorante, continua-se a pressupor o funcionamento eterno da sociedade global do trabalho, pois, de onde deveria provir o dinheiro para financiar a renda mínima garantida pelo Estado senão dos processos de valorização com bom êxito? Quem conta com este “dividendo social” (o termo já explica tudo) precisa apostar, ao mesmo tempo, e disfarçadamente, na posição privilegiada de “seu próprio país” na concorrência global, pois só a vitória na guerra global dos mercados poderia garantir provisoriamente o alimento de alguns milhões de “supérfluos” na mesa capitalista – obviamente excluindo todas as pessoas sem carteira de identidade nacional.
Os reformistas “amadores” da reivindicação de renda mínima ignoram a configuração capitalista da forma-dinheiro em todos os aspectos. No fundo, entre os sujeitos do trabalho e os sujeitos do consumo de mercadorias capitalistas, eles apenas querem salvar este último. Em vez de pôr em questão o modo de vida capitalista em geral, o mundo continuaria, apesar da crise do trabalho, a ser enterrado debaixo de uma avalanche de latas fedorentas, de horrorosos blocos de concreto e do lixo de mercadorias inferiores, para que aos homens reste a última e triste liberdade que eles ainda podem imaginar: a liberdade de escolha ante às prateleiras do supermercado.
Mas mesmo esta perspectiva triste e limitada é totalmente ilusória. Seus protagonistas esquerdistas e analfabetos teóricos esqueceram que o consumo capitalista de mercadorias nunca serve simplesmente para a satisfação de necessidades, mas tem sempre apenas uma função no movimento de valorização. Quando a força de trabalho não pode mais ser vendida, mesmo as necessidades mais elementares são consideradas pretensões luxuosas e desavergonhadas, que deveriam ser reduzidas ao mínimo. E, justamente por isso, o programa de renda mínima funciona como veículo, isto é, como instrumento da redução de custos estatais e como versão miserável da transferência social, que substitui os seguros sociais em colapso. Neste sentido, o guru do neoliberalismo Milton Friedman originalmente desenvolveu a concepção da renda mínima antes que a esquerda desarmada a descobrisse como a pretensa âncora de salvação. E com este conteúdo ela será realidade – ou não.
“Foi comprovado que, conforme as leis inevitáveis da natureza humana, alguns homens estão expostos à necessidade. Estes, são as pessoas infelizes que, na grande loteria da vida, tiraram a má sorte.”
(Thomas Robert Malthus)
16. A superação do trabalho
A ruptura categorial com o trabalho não encontra nenhum campo social pronto e objetivamente determinado, como no caso da luta de interesses limitada e imanente ao sistema. Trata-se da ruptura com uma falsa normatividade objetivada de uma “segunda natureza”, portanto não da repetição de uma execução quase automática, mas de uma conscientização negadora – recusa e rebelião sem qualquer “lei da história” como apoio. O ponto de partida não pode ser algum novo princípio abstrato geral, mas apenas o nojo perante a própria existência enquanto sujeito do trabalho e da concorrência, e a rejeição categórica do dever de continuar “funcionando” num nível cada vez mais miserável.
Apesar de sua predominância absoluta, o trabalho nunca conseguiu apagar totalmente a repugnância contra as coerções impostas por ele. Ao lado de todos os fundamentalismos regressivos e de todos os desvarios de concorrência da seleção social, existe também um potencial de protesto e resistência. O mal-estar no capitalismo está maciçamente presente, mas é reprimido para o subsolo sócio-psíquico. Não se apela a este mal-estar. Por isso, precisa-se de um novo espaço livre intelectual para poder tornar pensável o impensável. O monopólio de interpretação do mundo pelo campo do trabalho precisa ser rompido. A crítica teórica do trabalho ganha, assim, um papel de catalisador. Ela tem o dever de atacar, frontalmente, as proibições dominantes do pensar; e expressar, aberta e claramente, aquilo que ninguém ousa saber, mas que muitos sentem: a sociedade do trabalho está definitivamente no seu fim. E não há a menor razão para lamentar sua agonia.
Somente a crítica do trabalho formulada expressamente e um debate teórico correspondente podem criar aquela nova contra-esfera pública, que é um pressuposto indispensável para construir um movimento de prática social contra o trabalho. As disputas internas ao campo de trabalho esgotaram-se e tornaram-se cada vez mais absurdas. É, portanto, mais urgente, redefinir as linhas de conflitos sociais nas quais uma união contra o trabalho possa ser formada.
Precisam ser esboçadas em linhas gerais quais são as diretrizes possíveis para um mundo além do trabalho. O programa contra o trabalho não se alimenta de um cânon de princípios positivos, mas a partir da força da negação. Se a imposição do trabalho foi acompanhada por uma longa expropriação do homem das condições de sua própria vida, então a negação da sociedade do trabalho só pode consistir em que os homens se reapropriem da sua relação social num nível histórico superior. Por isso, os inimigos do trabalho almejam a formação de uniões mundiais de indivíduos livremente associados, para que arranquem da máquina de trabalho e valorização que-gira-em-falso os meios de produção e existência, tomando-os em suas próprias mãos. Somente na luta contra a monopolização de todos os recursos sociais e potenciais de riqueza pelas forças alienadoras do mercado e Estado, podem ser ocupados os espaços sociais de emancipação.
Também a propriedade privada precisa ser atacada de um modo diferente e novo. Para a esquerda tradicional, a propriedade privada não era a forma jurídica do sistema produtor de mercadorias, mas apenas um poder de “disposição” ominoso e subjetivo dos capitalistas sobre os recursos. Assim, pode aparecer a idéia absurda de querer superar a propriedade privada no terreno da produção de mercadorias. Então, como oposição à propriedade privada aparecia, em regra, a propriedade estatal (”estatização”). Mas o Estado não é outra coisa senão a associação coercitiva exterior ou a universalidade abstrata de produtores de mercadorias socialmente atomizados, a propriedade estatal é apenas uma forma derivada da propriedade privada, tanto faz se com, ou sem, o adjetivo socialista.
Na crise da sociedade do trabalho, tanto a propriedade privada quanto a propriedade estatal ficam obsoletas porque as duas formas de propriedade pressupõem do mesmo modo o processo de valorização. É por isso que os correspondentes meios materiais ficam crescentemente em “pousio” ou trancados. De maneira ciumenta, funcionários estatais, empresariais e jurídicos vigiam para que isto continue assim e para que os meios de produção antes apodreçam do que sejam utilizados para um outro fim. A conquista dos meios de produção por associações livres contra a administração coercitiva estatal e jurídica só pode significar que esses meios de produção não sejam mais mobilizados sob a forma da produção de mercadorias para mercados anônimos.
Em lugar da produção de mercadorias entra a discussão direta, o acordo e a decisão conjunta dos membros da sociedade sobre o uso sensato de recursos. A identidade institucional social entre produtores e consumidores, impensável sobre o ditado do fim em si mesmo capitalista, será construída. As instituições alienadas pelo mercado e pelo Estado serão substituídas pelo sistema em rede de conselhos, nos quais as livres associações, da escala dos bairros até a mundial, determinam o fluxo de recursos conforme pontos de vista da razão sensível social e ecológica.
Não é mais o fim em si mesmo do trabalho e da “ocupação” que determina a vida, mas a organização da utilização sensata de possibilidades comuns, que não serão dirigidas por uma “mão invisível” automática, mas por uma ação social consciente. A riqueza produzida é apropriada diretamente segundo as necessidades, não segundo o “poder de compra”. Junto com o trabalho, desaparece a universalidade abstrata do dinheiro, tal como aquela do Estado.
Em lugar de nações separadas, uma sociedade mundial que não necessita mais de fronteiras e na qual todas as pessoas podem se deslocar livremente e exigir em qualquer lugar o direito de permanência universal.
A crítica do trabalho é uma declaração de guerra contra a ordem dominante, sem a coexistência pacífica de nichos com as suas respectivas coerções. O lema da emancipação social só pode ser: tomemos o que necessitamos! Não nos arrastemos mais de joelhos sob o jugo dos mercados de trabalho e da administração democrática da crise! O pressuposto disso é o controle feito por novas formas sociais de organização (associações livres, conselhos) sobre as condições de reprodução de toda a sociedade. Esta pretensão diferencia os princípios dos inimigos do trabalho de todos os dos políticos de nichos e de todos os dos espíritos mesquinhos de um socialismo de colônias de pequenas hortas.
O domínio do trabalho cinde o indivíduo humano. Separa o sujeito econômico do cidadão, o animal de trabalho do homem de tempo livre, a esfera pública abstrata da esfera privada abstrata, a masculinidade produzida da feminilidade produzida, opondo, assim, ao indivíduo isolado, sua própria relação social como um poder estranho e dominador. Os inimigos do trabalho almejam a superação dessa esquizofrenia através da apropriação concreta da relação social por homens conscientes, atuando auto-reflexivamente.
“O ‘trabalho’ é, em sua essência, a atividade não livre, não humana, não social, determinada pela propriedade privada e que cria a propriedade privada. A superação da propriedade privada se efetivará somente quando ela for concebida como superação do ‘trabalho’.”
(Karl Marx – Sobre o livro “O sistema Nacional da economia política” de Friedrich List, 1845)
17. Um programa de abolições contra os amantes do trabalho
Os inimigos do trabalho serão acusados de não serem outra coisa que fantasistas. A história teria comprovado que uma sociedade que não se baseia nos princípios do trabalho, da coerção da produção, da concorrência de mercado e do egoísmo individual, não poderia funcionar. Vocês, apologistas do status quo, querem afirmar que a produção de mercadorias capitalistas trouxe, realmente, para a maioria dos homens, uma vida minimamente aceitável? Vocês dizem “funcionar”, quando justamente o crescimento saltitante de forças produtivas expulsa milhões de pessoas da humanidade, que podem então ficar felizes em sobreviver nos lixões? Quando outros milhões suportam a vida corrida sob o ditado do trabalho no isolamento, na solidão, no doping sem prazer do espírito e adoecendo física e psiquicamente? Quando o mundo se transforma num deserto só para fazer do dinheiro mais dinheiro? Pois bem, este é realmente o modo como vosso sistema grandioso de trabalho “funciona”.
Estes resultados, não queremos alcançar!
Vossa auto-satisfação se baseia na vossa ignorância e na fraqueza de vossa memória. A única justificativa que encontram para vossos crimes atuais e futuros é a situação do mundo que se baseia em vossos crimes passados.
Vocês esqueceram e reprimiram quantos massacres estatais foram necessários para impor, com torturas, a “lei natural” da vossa mentira nos cérebros dos homens, tanto que seria quase uma felicidade ser “ocupado”, determinado externamente, e deixado que se sugasse a energia de vida para o fim em si mesmo abstrato de vosso deus-sistema.
Precisavam ser exterminadas todas as instituições da auto-organização e da cooperação autodeterminada das antigas sociedades agrárias, até que a humanidade fosse capaz de interiorizar o domínio do trabalho e do egoísmo. Talvez tenha sido feito um trabalho perfeito. Não somos otimistas exagerados. Não sabemos se existe ainda uma libertação desta existência condicionada. Fica em aberto a questão se o declínio do trabalho leva à superação da mania do trabalho ou ao fim da civilização.
Vocês argumentarão que com a superação da propriedade privada e da coerção de ganhar dinheiro, todas as atividades acabam e que se iniciará então uma preguiça generalizada. Vocês confessam portanto que todo vosso sistema “natural” se baseia em pura coerção? E que, por isso, vocês teimam em ser a preguiça um pecado mortal contra o espírito do deus-trabalho? Os inimigos do trabalho não têm nada contra a preguiça. Um dos seus objetivos principais é a reconstrução da cultura do ócio, que antigamente todas as sociedades conheciam e que foi destruída para impor uma produção infatigável e vazia de sentido. Por isso, os inimigos do trabalho irão paralisar, sem compensação, em primeiro lugar, os inúmeros ramos de produção que apenas servem para manter, sem levar em consideração quaisquer danos, o louco fim em si mesmo do sistema produtor de mercadorias.
Não falamos apenas das áreas de trabalho claramente inimigas públicas, como a indústria automobilística, a de armamentos e a de energia nuclear, mas também a da produção de múltiplas próteses de sentido e objetos ridículos de entretenimento que devem enganar e fingir para o homem do trabalho uma substituição para sua vida desperdiçada. Também terá de desaparecer o número monstruoso de atividades que só aparecem porque as massas de produtos precisam ser comprimidas para passar pelo buraco da agulha da forma-dinheiro e da mediação do mercado.
Ou vocês acham que serão ainda necessários contabilistas e calculadores de custo, especialistas de marketing e vendedores, representantes e autores de textos de publicidade quando as coisas forem sendo produzidas conforme a necessidade, ou quando todos simplesmente tomarem o que for preciso? Por que então ainda existir funcionários de secretaria de finanças e policiais, assistentes sociais e administradores de pobreza, quando não houver mais nenhuma propriedade privada a ser protegida, quando não for preciso administrar nenhuma miséria social e quando não for preciso domar ninguém para a coerção alienada do sistema?
Já estamos ouvindo o grito: quantos empregos! Sim senhor. Calculem com calma quanto tempo de vida a humanidade se rouba diariamente só para acumular “trabalho morto”, administrar pessoas e azeitar o sistema dominante. Quanto tempo nós todos poderíamos deitar ao sol, em vez de se esfolar para coisas cujo caráter grotesco, repressivo e destruidor já se encheu bibliotecas inteiras. Mas não tenham medo. De forma alguma acabarão todas as atividades quando a coerção do trabalho desaparecer. Porém, toda a atividade muda seu caráter quando não está mais fixada na esfera de tempos de fluxo abstratos, esvaziada de sentido e com fim em si, podendo seguir, ao contrário o seu próprio ritmo, individualmente variado e integrado em contextos de vida pessoais; quando em grandes formas de organização os homens por si mesmos determinarem o curso, em vez de serem determinados pelo ditado da valorização empresarial. Por que deixar-se apressar pelas reivindicações insolentes de uma concorrência imposta? É o caso de redescobrir a lentidão.
Obviamente, também não desaparecerão as atividades domésticas e de assistência que a sociedade do trabalho tornou invisível, cindiu e definiu como “femininas”. Cozinhar é tão pouco automatizável quanto trocar fraldas de bebê. Quando, junto com o trabalho, a separação das esferas sociais for superada, estas atividades necessárias podem aparecer sob organização social consciente, ultrapassando qualquer definição sexual. Elas perdem seu caráter repressivo quando pessoas não mais subsumem-se entre si, e quando são realizadas segundo as necessidades de homens e mulheres da mesma forma.
Não estamos dizendo que qualquer atividade torna-se, deste modo, prazer. Algumas mais, outras menos. Obviamente há sempre algo necessário a ser feito. Mas a quem isso poderia assustar se a vida não será devorada por isso? E haverá sempre muito o que possa ser feito por decisão livre. Pois a atividade, assim como o ócio, é uma necessidade. Nem mesmo o trabalho conseguiu apagar totalmente esta necessidade, apenas a instrumentalizou e a sugou vampirescamente.
Os inimigos do trabalho não são fanáticos de um ativismo cego, nem de um nada fazer também cego. Ócio, atividades necessárias e atividades livremente escolhidas devem ser colocados numa relação com sentido que se oriente nas necessidades e nos contextos de vida. Uma vez despojadas das coerções objetivas capitalistas do trabalho, as forças produtivas modernas podem ampliar, enormemente, o tempo livre disponível para todos. Por que passar, dia após dia, tantas horas em fábricas e escritórios se autômatos de todos os tipos podem assumir uma grande parte destas atividades? Para que deixar suar centenas de corpos humanos quando algumas poucas ceifadoras resolvem? Para que gastar o espírito com uma rotina que o computador, sem nenhum problema, executa?
Todavia, para esses fins só podem ser utilizados a mínima parte da técnica na sua forma capitalista dada. A grande parte dos agregados técnicos precisa ser totalmente transformada porque foi construída segundo os padrões limitados da rentabilidade abstrata. Por outro lado, muitas possibilidades técnicas não foram ainda nem desenvolvidas pela mesma razão. Apesar da energia solar poder ser produzida em qualquer canto, a sociedade do trabalho põe no mundo usinas nucleares centralizadas e de alta periculosidade. E apesar de serem conhecidos métodos não agressivos na produção agrária, o cálculo abstrato do dinheiro joga milhares de venenos na água, destrói os solos e empesta o ar. Só por razões empresariais, materiais de construção e alimentos estão sendo transportados três vezes em volta do globo, apesar de poderem ser produzidos sem grandes custos localmente. Uma grande parte da técnica capitalista é tão vazia de sentido e supérflua quanto o dispêndio de energia humana relacionada a ela.
Não estamos dizendo-lhes nada de novo. Mas mesmo assim, vocês sabem que nunca tirarão as conseqüências disto tudo, pois recusam qualquer decisão consciente sobre a aplicação sensata de meios de produção, transporte e comunicação e sobre quais deles são maléficos ou simplesmente supérfluos. Quanto mais apressados vocês rezam seu mantra da liberdade democrática, tanto mais aferradamente rejeitam a liberdade de decisão social mais elementar, porque querem continuar servindo ao defunto dominante do trabalho e às suas pseudo “leis naturais”.
“Que o trabalho, não somente nas condições atuais, mas em geral, na medida em que sua finalidade é a simples ampliação da riqueza, quer dizer, que o trabalho por si só seja prejudicial e nefasto – isto sucede, sem que o economista nacional o saiba (Adam Smith), de suas próprias exposições.”
(Karl Marx – Manuscritos Econômico-Filosóficos, 1844)
18. A luta contra o trabalho é antipolítica.
A superação do trabalho é tudo menos uma utopia nas nuvens. A sociedade mundial não pode continuar na sua forma atual por mais cinqüenta ou cem anos. O fato de os inimigos do trabalho tratarem de um deus-trabalho clinicamente morto não quer dizer que sua tarefa torna-se necessariamente mais fácil. Quanto mais a crise da sociedade do trabalho se agrava e quanto mais falham todas as tentativas de consertá-la, tanto mais cresce o abismo entre o isolamento de mônadas sociais abandonadas e as reivindicações de um movimento de apropriação da sociedade como um todo. O crescente asselvajamento das relações sociais em grandes partes do mundo demonstra que a velha consciência do trabalho e da concorrência continuam num nível cada vez mais baixo. A descivilização por etapas parece, apesar de todos os impulsos de mal-estar no capitalismo, a forma do percurso natural da crise.
Justamente, face a perspectivas tão negativas, seria fatal colocar a crítica prática do trabalho ao cabo de um programa amplo em relação à sociedade como um todo e se limitar a construir uma economia precária de sobrevivência nas ruínas da sociedade do trabalho. A crítica do trabalho só tem uma chance quando luta contra a corrente da dessocialização, ao invés de se deixar levar por ela. Os padrões civilizatórios não podem ser mais defendidos com a política democrática, mas apenas contra ela.
Quem almeja a apropriação emancipatória e a transformação de todo o contexto social, dificilmente pode ignorar a instância que até então organizou as condições gerais deste contexto. É impossível se revoltar contra a apropriação das próprias potencialidades sociais sem o confronto com o Estado. Pois o Estado não administra apenas cerca de metade da riqueza social, mas assegura também a subordinação coercitiva de todos os potenciais sociais sob o mandamento da valorização. Se tampouco os inimigos do trabalho podem ignorar o Estado e a política, tampouco podem fazer Estado e política com eles.
Quando o fim do trabalho é o fim da política, um movimento político para a superação do trabalho seria uma contradição em si. Os inimigos do trabalho dirigem reivindicações ao Estado, mas não formam nenhum partido político, nem nunca formarão. A finalidade da política só pode ser a conquista do aparelho do Estado para dar continuidade à sociedade do trabalho. Os inimigos do trabalho, por isso, não querem ocupar os painéis de controle do poder, mas sim desligá-los. A sua luta não é política, mas sim antipolítica.
Na modernidade, Estado e política são inseparavelmente ligados ao sistema coercitivo do trabalho e, por isso, precisam desaparecer junto com ele. O palavreado sobre um renascimento da política é apenas a tentativa de reduzir a crítica do terror econômico a uma ação positiva referente ao Estado. Auto-organização e autodeterminação, porém, são simplesmente o oposto exato de Estado e política. A conquista de espaços livres sócio-econômicos e culturais não se realiza no desvio político, na via oficial, nem no extravio, mas através da constituição de uma contra-sociedade.
Liberdade quer dizer não se deixar embutir pelo mercado, nem se deixar administrar pelo Estado, mas organizar as relações sociais sob direção própria – sem a interferência de aparelhos alienados. Neste sentido, interessa aos inimigos do trabalho encontrar novas formas de movimentos sociais e ocupar pontos estratégicos para a reprodução da vida, para além do trabalho. Trata-se de juntar as formas de uma práxis de oposição social, com a recusa ofensiva do trabalho.
Os poderes dominantes podem declarar-nos loucos porque arriscamos a ruptura com seu sistema coercitivo irracional. Não temos nada a perder senão a perspectiva da catástrofe para a qual eles nos conduzem. Temos a ganhar um mundo além do trabalho.
Proletários de todo mundo, ponham fim nisso!
“Nossa vida é o assassinato pelo trabalho, durante sessenta anos ficamos enforcados e estrebuchando na corda, mas não a cortamos.”
(Georg Büchner – A Morte de Danton, 1835).
—
Publicado nos Cadernos do Labur – nº 2 (Laboratório de Geografia Urbana/Departamento de Geografia/Universidade de São Paulo. Contatos: Krisis na internet – www.magnet.at/krisis ; e-mail: [email protected] ; Grupo Krisis-Labur-São Paulo: [email protected]
Grupo Krisis – Tradução de Heinz Dieter Heidemann com colaboração de Cláudio Roberto Duarte
Alimente sua alma com mais:

Conheça as vantagens de assinar a Morte Súbita inc.