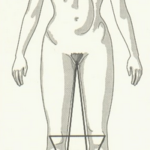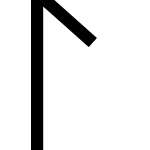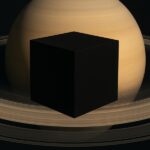Este texto foi lambido por 264 almas esse mês
excerto de O Ramo de Ouro
Sir James George Frazer. Trad. Waltensir Dutra.
O mito de Adônis localizava-se, e seus ritos eram celebrados com grande solenidade, em Biblos, no litoral da Síria, e em Paros, na ilha de Chipre. Ambas as cidades eram grandes centros do culto de Afrodite, ou melhor, de sua equivalente semita, Astarte; e de ambas, se aceitarmos as lendas, Cíniras, pai de Adônis, era rei. Das duas cidades, Biblos era a mais antiga; nos tempos históricos, era considerada como lugar santo, a capital religiosa do país, a Meca ou a Jerusalém dos fenícios. Desde os primeiros até os últimos tempos, a cidade parece ter sido governada por reis, assistidos talvez por um senado ou um conselho de anciãos. Os nomes desses reis sugerem que pretendiam uma afinidade com seu deus Baal ou Moloch, pois Moloch é apenas uma corruptela de melech, isto é, “rei”. De qualquer modo, essa pretensão parece ter sido a de muitos outros reis semitas. Os primeiros monarcas da Babilônia, por exemplo, eram cultuados como deuses em vida. Da mesma forma, os reis de Biblos podem ter adotado o título de Adônis, que era simplesmente o divino Adon, ou “senhor” da cidade, título que pouco difere, em sentido, de Baal (“dono”) e Melech (“rei”). Alguns dos antigos reis cananeus de Jerusalém parecem ter desempenhado o papel de Adônis durante suas vidas, a julgar pelos seus nomes, Adoni-bezek e Adoni-zedek, que são títulos mais divinos do que humanos. Não nos devemos surpreender, portanto, com o fato de que, em épocas poste- riores, as mulheres de Jerusalém chorassem Tamuz, isto é, Adônis, na porta norte do templo.
Mas se Jerusalém foi, desde os tempos mais remotos, sede de uma dinastia de potentados espirituais ou grão-lamas, que tinham nas mãos as chaves dos céus e eram reverenciados em toda parte como reis e deuses na mesma pessoa, podemos compreender facilmente por que o arrivista Davi a escolheu para a capital do novo reino que conquistara por si mesmo com a espada. A posição central c a força natural de uma fortaleza invicta não teriam de ser, necessariamente, a única ou a principal das razões que levaram um monarca tão político a transferir seu trono de Hebron para Jerusalém. Colocando-se como herdeiro dos antigos reis da cidade, ele poderia ter razoáveis esperanças de herdar sua reputação espiritual juntamente com seus amplos territórios, de usar tanto a aura quanto a sua coroa. A história dos reis hebreus apresenta certos aspectos que podem, talvez sem exagero, ser interpretados como vestígios ou resquícios de uma época em que eles, ou seus predecessores, desempenhavam o papel de divindade, particularmente de Adônis, o senhor divino da terra. Mas, sejam identificados ou não com Adônis, os reis hebreus certamente parecem ter sido considerados como divinos, num certo sentido, como representações e, até certo ponto, personificações de Jeová na terra. O trono do rei era chamado de trono de Jeová; a aplicação do óleo sagrado sobre sua cabeça transmitia-lhe, ao que se acreditava, diretamente uma parte do espírito divino. Em conseqüência, surgiu o título de messias, que, como o seu equivalente grego, Cristo, significa apenas “o ungido”. Assim, quando Davi cortou a barra da roupa de Saul, nas trevas da caverna onde se escondia, seu coração o afligiu por ter posto as mãos sacrílegas em Adoni messias Jeová, “meu senhor, o ungido de Jeová”.
O costume de ungir o rei era observado também em várias regiões da Polinésia. Assim, em Samoa os “reis, nos tempos antigos, eram publicamente proclamados e reconhecidos pela unção na presença de uma grande assembléia de chefes e do povo. Uma pedra sagrada era consagrada como trono, ou melhor, escabelo (scabellum), sobre o qual ficava o rei, enquanto um sacerdote, que devia ser também um chefe, concitava os deuses a contemplar e a abençoar o rei e pronunciava denúncias contra aqueles que lhe recusavam obediência. Derramava então óleo perfumado sobre a cabeça, ombros e corpo do rei, proclamando os seus vários títulos e honras”.
Como outros governantes divinos ou semi-divinos, os reis hebreus eram, ao que tudo indica, considerados como responsáveis pela peste e pela escassez. Quando esta, ocasionada talvez pela ausência das chuvas de inverno, assolou a terra por três anos, o Rei Davi consultou um oráculo, que, discretamente, atribuiu a responsabilidade não a ele, mas ao seu antecessor Saul. O rei morto estava, na verdade, fora do alcance da punição, mas seus filhos, não. Por isso Davi mandou procurar sete deles e enforcá-los na presença do senhor quando do início da colheita da cevada na primavera; e durante todo o longo verão a mãe de dois dos mortos ficou sentada sob a árvore do enforcamento, afugentando os chacais durante a noite e os abutres durante o dia, até que, no outono, chegou finalmente a chuva bendita, para molhar seus corpos pendentes e fertilizar a terra estéril mais uma vez. Então os ossos dos mortos foram arriados da forca e enterrados no sepulcro de seus antepassados.
Nos dias da monarquia hebraica atribuíam-se ao rei, ao que parece, o poder de curar e o poder de fazer adoecer. Assim, o rei da Síria mandou um leproso ao rei de Israel para ser curado por ele, tal como os escrofulosos acreditavam poder ser curados pelo toque de um rei francês ou inglês. Mas o monarca hebreu, com mais bom senso do que o revelado pelos seus reais irmãos nos tempos modernos, confessou-se incapaz de operar tais milagres. “Serei Deus”, perguntou ele, “capaz de dar a vida e a morte, para que esse homem me mande um doente para curar da lepra?”
A essa teoria da santidade, ou antes, da divindade dos reis hebreus, pode-se objetar que poucos vestígios dela restam nos livros históricos da Bíblia. Mas a força dessa objeção se perde se examinarmos a época e as circunstâncias em que esses livros receberam a sua forma final. Os grandes profetas dos séculos VIII e VII a.C. haviam realizado, com as idéias espirituais e o fervor ético de seus ensinamentos, uma reforma religiosa e moral talvez sem paralelo na história. Sob a sua influência, um austero monoteísmo substituiu o velho culto sensual das forças naturais: um rígido espírito puritano, um rigor inflexível de espírito sucederam à velha e flexível têmpera e à sua com- placência fácil para com as fraquezas, sua impressionabilidade moldável como a cera, sua inclinação aos pecados da carne. E as lições morais que os profetas inculcaram eram refor- çadas pelos acontecimentos políticos da época, acima de tudo pela crescente pressão do grande império assírio sobre os pequenos Estados da Palestina.
Foi nesse período de preocupação nacional e de desespero que as duas grandes reformas da religião de Israel se realizaram, a primeira, promovida pelo Rei Ezequias e a segunda, um século depois, pelo Rei Josias. Não nos devemos surpreender, portanto, com o fato de que os reformadores que, naquela época e em épocas subseqüentes, compuseram ou revisaram os anais de sua nação tivessem visto o velho paganismo não-reformado de seus antepassados com o mesmo amargor com que os fanáticos da Commonwealth viam os passatempos, muito mais inocentes, da chamada Merry England; e que, em seu zelo pela glória de Deus, tivessem apagado muitas páginas da história para que não perpetuassem a memória de práticas que consideravam responsáveis pelas calamidades que assolavam o seu país.
Mas, se os reis semitas em geral, e os reis de Biblos em particular, adotavam com freqüência o título de Baal ou de Adônis, segue-se que se podem ter consorciado com a deusa, a Baalath ou Astarte da cidade. Conhecemos, certamente, deuses de Tiro e de Sidon que eram sacerdotes de Astarte. Ora, para os semitas agrícolas, Baal, ou o deus de uma terra, era o responsável por toda a sua fertilidade; era ele quem produzia o cereal, o vinho, os figos, o óleo e o linho, pelo aumento das águas, que, nas partes áridas do mundo semita, são mais freqüentemente as fontes, os regatos e os rios subterrâneos do que as chuvas dos céus. “Baal era concebido como o princípio masculino da reprodução, o esposo da terra, que ele fertilizava.” Na medida, portanto, em que o semita personificava as energias reprodutivas da natureza como masculinas e femininas, como Baal e Baalath, parece ter identificado o poder masculino especialmente com a água e o feminino especialmente com a terra. Assim sendo, as plantas e as árvores, os animais e os homens, são os rebentos ou filhos de Baal e Baalath.
Se, então, em Biblos e em outros lugares, o rei semita podia, ou antes, tinha de personificar o deus e desposar a deusa, a intenção desse costume só pode ter sido a de assegurar a fertilidade da terra e a multiplicação dos homens e dos animais por meio da magia homeopática. Há razões para se acreditar que um costume semelhante era observado, por motivos semelhantes, em outras partes do mundo antigo, e particularmente em Nemi, onde tanto a força masculina como a feminina, Dianus e Diana, eram, sob um dos aspectos de sua natureza, personificações das águas vivificadoras.
O povo de Biblos raspava a cabeça em seu luto anual por Adônis. As mulheres que se recusavam a sacrificar os cabelos tinham de se entregar aos estrangeiros em certo dia de festa, e o dinheiro que assim ganhavam era dedicado à deusa. Esse costume pode ter sido uma forma moderada de uma velha norma que, tanto em Biblos como em outros lugares, obrigava antigamente as mulheres, sem exceção, a sacrificar sua virtude a serviço da religião. Sabemos que, na Lídia, todas as moças eram obrigadas a se prostituir para ganhar um dote, mas podemos suspeitar que o motivo real do costume fosse antes a devoção do que a economia. A suspeita é confirmada por uma inscrição grega encontrada em Trales, na Lídia, que prova ter a prática da prostituição religiosa sobrevivido naquele país até o século II de nossa era. A inscrição conta que uma certa mulher,
Aurélia Emília, servira ao deus na qualidade de prostituta, por sua ordem expressa, como também sua mãe e outras mulheres da família antes dela o haviam feito; a publicidade desse registro, feito numa coluna de mármore que sustentava uma oferenda votiva, mostra que nenhuma mácula resultava dessa vida e desse parentesco. Na Armênia, as famílias mais nobres dedicavam suas filhas ao serviço da deusa Anait em seu templo em Acilisena, onde as moças viviam como prostitutas por muito tempo antes de se casarem. Ninguém tinha escrúpulos em aceitar por esposa uma delas, depois de terminado o seu período de serviço.
Em Chipre, onde Adônis era também adorado, parece que, antes do casamento, todas as mulheres eram, antigamente, obrigadas pelo costume a se prostituir aos estranhos no santuário da deusa, tivesse ela o nome de Afrodite, Astarte ou qualquer outro. Costumes semelhantes existiram em muitas partes da Ásia ocidental. Qualquer que fosse o motivo, a prática era evidentemente considerada não como uma orgia de sensualidade, mas como um solene dever religioso desempenhado a serviço da grande deusa-mãe da Ásia ocidental, cujo nome variava, embora o tipo permanecesse constante, de lugar para lugar. Assim, na Babilônia todas as mulheres, ricas ou pobres, tinham, uma vez na vida, de se submeter aos carinhos de um estrangeiro, no templo de Milita, isto é, de Istar ou Astarte, e dedicar à deusa os proventos dessa prostituição sagrada. O local sagrado ficava cheio de mulheres que esperavam para observar o costume. Algumas tinham de esperar anos. Em Heliópolis, ou Baalbec, na Síria, famosa pela imponente grandeza das ruínas de seus templos, o costume local exigia que toda moça se prostituísse a um estrangeiro, no templo de Astarte, e tanto as matronas quanto as jovens solteiras testemunhavam a sua devoção à deusa da mesma maneira. O Imperador Constantino aboliu o costume, destruiu o templo e construiu em seu lugar uma igreja. Nos templos fenícios, as mulheres se prostituíam a serviço da religião, acreditando que, com isso, propiciavam a deusa e ganhavam sua proteção. “Era lei dos amorritas que toda mulher em vésperas de casar-se devia expor-se em fornicação durante sete dias junto ao portão.”
Uma grande deusa-mãe, personificação de todas as energias reprodutivas da natureza, era adorada sob diferentes nomes, mas com uma semelhança substancial de mito e de ritual, por muitos povos da Ásia ocidental.
E, ainda, a fabulosa união do divino par era simulada e, por assim dizer, multiplicada na terra por uniões reais, embora temporárias, dos sexos humanos no santuário da deusa em favor da fertilidade do solo e da multiplicação dos homens e animais.
O último rei de Biblos tinha o antigo nome de Cíniras e foi decapitado por ordem de Pompeu, o Grande, por causa de seus excessos tirânicos. Seu lendário homônimo Cíniras teria fundado um santuário de Afrodite, isto é, de Astarte, num lugar no monte Líbano, a um dia de viagem da capital. O local era provavelmente Aphaca, na nascente do rio Adônis, a meio caminho entre Biblos e Baalbec, pois havia ali um famoso bosque e santuário de Astarte, que Constantino fez destruir por causa do caráter flagicioso do culto que lá se realizava. Segundo a lenda, Adônis se encontrou com Afrodite pela primeira ou pela última vez naquele local, onde seu corpo lacerado foi enterrado. Anualmente, segundo a crença de seus fiéis, Adônis era ferido de morte nas montanhas, e, a cada ano, a face da própria natureza se tingia de seu sagrado sangue. Assim, todos os anos, as moças sírias lamentavam o destino prematuramente ceifado do deus, enquanto a anémona vermelha, a sua flor, vicejava entre os cedros do Líbano e o rio corria, vermelho, até o mar, orlando de uma faixa carmesim o litoral sinuoso do Mediterrâneo azul sempre que o vento soprava para a costa.
Alimente sua alma com mais:

Conheça as vantagens de assinar a Morte Súbita inc.