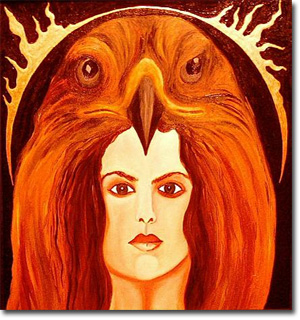Este texto já foi lambido por 1011 almas.
Tradução: Vítor João Oliveira
Diante do título deste livro, A virtude do egoísmo, não falta quem pergunte o porquê do termo “egoísmo”, com conotação positiva, ao lado de “virtude”—se todos “sabem” que “egoísmo” é o oposto de uma qualidade virtuosa de caráter.
O motivo é simples: “egoísmo” etimologicamente significa preocupação com nossos próprios interesses. O termo “egoísmo” não tem nenhuma conotação, positiva ou negativa; não diz se os interesses são bons ou maus; ou quais são.Cabe à ética responder a esse tipo de questão.
A ética altruísta responde que a preocupação com nosso próprio interesse é nociva; só tem valor moral uma ação praticada em benefício dos outros. Em lugar de perguntar: “O que são valores?”, o altruísta pergunta: “Quem deve se beneficiar dos valores?”—tornando o beneficiário da ação o único critério de valor moral. Tem o mesmo valor, por exemplo, o dinheiro ganho com o trabalho ou com um roubo—ambos são imorais porque o beneficiário é um “egoísta”.
Essa ética é trágica, porque não nos fornece um código de valores morais e nos deixa sem diretrizes morais. Essa falta de diretrizes tem levado a maioria das pessoas a desperdiçar suas vidas entre o cinismo e a culpa—cinismo, por não praticarem a ética altruísta; e culpa, por não se atreverem a rejeitar essa ética.
O que fazer? O primeiro passo é defender o direito do homem a uma existência moral racional—ou seja, a um código moral que sirva para definir os interesses e valores adequados à vida; que mostre que é moral preocupar-se com os próprios interesses; e que afirme o direito das pessoas de se beneficiarem de seus próprios atos morais.
Na ética Objetivista, quem age é sempre o beneficiário da ação, que age de acordo com seu próprio auto-interesse racional. A satisfação dos desejos irracionais dos demais, ou a satisfação dos próprios desejos irracionais, não é um critério de valor moral: a moralidade não é um concurso de caprichos. É errado achar que qualquer escolha é moral, desde que guiada por um julgamento independente—um julgamento nada mais é que o meio pelo qual se escolhe como agir. É isso que torna a ética Objetivista uma moralidade do auto-interesse racional—ou do egoísmo racional.
A ética objetivista
O que é moralidade, ou ética? É um código de valores que orienta as ações das pessoas e que determina o propósito e rumo de suas vidas. A ética, como ciência, trata da descoberta e da definição deste código.
Para definir um código de ética objetivo, racional e científico, é necessário responder às perguntas: Para que serve um código de valores? O conceito de valor, de ‘Bem ou Mal’, é arbitrário, ou é metafísico, uma condição inalterável da existência humana? A ética é o território dos caprichos ou da razão? A ética é um luxo subjetivo ou uma necessidade objetiva?
A alternativa a um código de ética objetivo, racional e científico, é uma ética mística com fundamentos sociais, com a sociedade no lugar de Deus. Nessa ética, o “bem da sociedade” é a fonte, o padrão e o critério ético; e “o bem” é tudo o que deseja a sociedade.
O problema é que a “sociedade” não é uma entidade, é apenas de um número de pessoas; se a sociedade é um princípio ético, então alguns indivíduos falam e agem em seu nome, e nos impõem os seus caprichos. Caprichos de quem? O meu, o da sociedade, o de um ditador, tanto faz. Para o moralista atual, a ética é subjetiva e está proibida de abordar a razão, a consciência e a realidade—premissa que devemos questionar.
Comecemos pelo princípio: O que são valores? Por que precisamos de valores? “Valor” é o objetivo da ação, o que se quer obter ou se manter. O conceito de valor depende da resposta à pergunta: Valor para quem e para o quê? O que pressupõe que há uma entidade capaz de agir para atingir um objetivo em face de uma alternativa—onde não há alternativas, não é possível ter objetivos e valores.
Só uma entidade viva pode ter objetivos e agir para atingi-los. Todos os organismos vivos agem para conservar a sua vida. O que é o apropriado para conservar a vida? A ação que leva à sobrevivência do organismo. A inação é a antítese da vida, que tem como valor supremo uma ação constante de auto-preservação.
Valores dependem de um objetivo último, um fim em si mesmo, e a vida é o único fim em si mesmo. O homem descobre o conceito de “valor” e toma consciência da questão do “bem e do mal” pelas sensações físicas de prazer ou dor. Sentir prazer ou dor é parte de sua natureza, parte do tipo de entidade que ele é.
A sensação física de prazer informa que o organismo está no curso certo de ação. A dor, que o organismo está em um curso errado de ação. Um organismo que só é capaz de sentir é orientado pelo mecanismo prazer-dor de seu corpo. Seu conhecimento e seu código de valores são automáticos.
Os organismos superiores possuem a faculdade da percepção, que lhe permitem ter consciência, não apenas de estímulos isolados, mas de entidades, de coisas. Diferentemente das plantas e dos animais, as ações e a sobrevivência do homem requerem valores conceituais que não são adquiridos automaticamente. Um “conceito” é uma integração mental de uma ou mais percepções, isoladas por um processo de abstração e unidas por meio de uma definição específica. A organização de percepções em conceitos permite compreender e reter uma quantidade ilimitada de conhecimento, maior que as percepções imediatas de qualquer momento dado.
A faculdade que dirige esse processo é a razão, que identifica e integra o material provido pelos sentidos e o processo se denomina pensar. Pensar não é uma função automática, decidimos pensar—ou não, já que pensar requer um estado volitivo de consciência focalizada. Psicologicamente, “pensar ou não pensar” consiste em escolher “focalizar ou não focalizar”. Existencialmente, “focalizar ou não focalizar” é escolher entre “ser ou não consciente”. Metafisicamente, “ser ou não consciente” é escolher entre a vida e a morte.
Mas a responsabilidade do homem vai além: seu pensamento não é automático, “instintivo” ou involuntário, ou infalível. Deve pensar e assumir responsabilidade pelos resultados; e descobrir as leis da lógica, para dirigir o pensamento. Tudo que precisa tem que ser aprendido, descoberto e produzido por sua própria escolha, esforço e mente.
Pensamento e trabalho produtivo são os dois pontos essenciais para a sobrevivência de um ser racional. Alguns parasitas mentais podem optar por não pensar. Outros tentam sobreviver por meio da força bruta ou da fraude, saqueando ou escravizando quem produz. Quem sobrevive por meio da força em lugar da razão, sobrevive como os animais. Mas, assim como os animais não sobrevivem usando o método das plantas—rejeitando a locomoção e esperando que o solo os alimente—um parasita não pode sobreviver usando o método dos animais, rejeitando a razão e contando com homens produtivos para servi-lo.
Para a ética Objetivista o critério de valor é a vida humana e o propósito ético de cada indivíduo é sua própria vida. Os três valores fundamentais da ética Objetivista são: Razão, Propósito e Auto-Estima, com suas três virtudes correspondentes: Racionalidade, Produtividade e Orgulho.
Racionalidade é o reconhecimento de que só a razão é fonte de conhecimento, único juízo de valor e único guia de ação; de que todos os objetivos, valores e atos ocorrem na realidade e que o maior valor é a percepção da realidade; de que se deve aceitar a responsabilidade de formar os próprios juízos e de viver pelo trabalho da própria mente (que é a virtude da Independência); de que não se deve nunca sacrificar convicções às opiniões ou desejos dos outros (que é a virtude da Integridade); de que nunca se deve falsear a realidade, procurar ou conceder o imerecido—nem em matéria, nem em espírito (que é a virtude da Justiça); de que nunca se deve decretar uma causa sem assumir a responsabilidade por seus efeitos; de que nunca se deve evadir com contradições; e de que deve rejeitar qualquer forma de misticismo, isto é, qualquer fonte de conhecimento não-sensorial, indefinível e sobrenatural.
A Produtividade é o reconhecimento que a mente humana sustenta a vida com o trabalho produtivo, que liberta o homem da necessidade de ajustar-se ao meio ambiente e lhe dá o poder de ajustar o meio ambiente a si próprio.
O Orgulho é o reconhecimento de que produzimos os valores físicos necessários para manter a vida e adquirimos os valores de caráter que fazem a vida merecer ser vivida—assim como fazemos nosso próprio destino, fazemos também nossa própria alma. Temos “ambição moral”—consideramos a nós mesmos como nosso mais alto valor.
O princípio social básico da ética Objetivista é que todo ser humano vivo é um fim em si mesmo, não o meio para o bem-estar dos outros—e, portanto, que o homem deve viver para o seu próprio proveito, não se sacrificando pelos outros, nem sacrificando os outros para si. Viver para seu próprio proveito significa que o propósito moral mais alto do ser humano é a realização de sua própria felicidade.
A sobrevivência do homem não confronta sua consciência como uma questão de “vida ou morte”, mas de “felicidade ou sofrimento”. A felicidade é o estado de triunfo da vida, o sofrimento é o de alerta da morte. O mecanismo emocional da consciência do homem é um barômetro que registra as suas emoções básicas: felicidade ou sofrimento.
Nem a vida, nem a felicidade—o estado da consciência que provém da realização dos próprios valores—podem ser atingidas através de caprichos irracionais. É apenas através da aceitação da própria vida, como princípio fundamental, e da busca dos valores racionais requeridos pela vida, que se alcança a felicidade—não tornando a “felicidade” um princípio indefinido e irredutível e então tentando viver por essas diretrizes.
Essa é, aliás, a falácia do hedonismo ético, pessoal ou social, individual ou coletivo. A “Felicidade” é o propósito da ética, mas não é a sua base. A tarefa da ética é definir o código de valores adequado e, desse modo, dar-nos o meio de alcançar a felicidade.
A ética de Nietzsche (a busca “egoísta” dos próprios caprichos), ou o altruísmo servil aos caprichos dos outros, como a ética de Bentham, Mill, Comte e de outros hedonistas sociais, legaram à humanidade apenas a escolha de caprichos. Quando o objetivo ético é “a maior felicidade do maior número” não há escolha senão odiar, ter medo e a luta de uns contra os outros, porque os desejos e interesses necessariamente colidem. O canibalismo moral de todas as doutrinas hedonistas e altruístas consiste na premissa de que a felicidade de um homem implica prejuízo de outro.
A ética Objetivista orgulha-se de defender o egoísmo racional, que significa: os valores exigidos pela vida humana, não os valores produzidos pelos desejos, emoções e “aspirações”; que o bem do homem não requer o sacrifício de ninguém; e que não há conflitos de interesses entre pessoas que não desejam o imerecido, que não fazem sacrifícios, nem os aceitam, e que se tratam entre si como negociantes, trocando valor por valor.
O princípio da troca é o único princípio ético racional para todos os relacionamentos humanos, pessoais e sociais, particulares e públicos, espirituais e materiais. É o princípio da justiça.
Amor, amizade, respeito, admiração são a resposta emocional às virtudes do outro, o pagamento espiritual dado em troca do prazer pessoal egoísta que se obtém das virtudes de caráter de outro. É o altruísta que diz que a valorização das virtudes de outra pessoa é um ato de desinteresse. Amar é dar valor. Somente um homem racionalmente egoísta, que se valoriza a si mesmo, é capaz de valorizar alguém.
É somente com base no egoísmo racional—com base na justiça—que os homens podem ajustar-se para viver juntos numa sociedade livre, pacífica, próspera, benevolente e racional.
É possível tirar algum proveito pessoal da vida em sociedade? Conhecimento e comércio são os dois grandes valores ganhos com a convivência social. O ser humano é a única espécie que pode transmitir e expandir seu estoque de conhecimento, beneficiando-se das descobertas uns dos outros. O segundo grande benefício é a divisão do trabalho: ela capacita o homem a dedicar seu esforço a um campo de trabalho em particular e a negociar com outros que se especializaram em outros campos. Essa forma de cooperação permite a todos que tomam parte nela deter mais conhecimentos, habilidade e retorno produtivo pelos seus esforços do que poderiam obter se cada um tivesse de produzir tudo do que necessitasse.
O princípio político básico da ética Objetivista é: ninguém—um grupo, a sociedade, ou o governo—possui o direito de iniciar o uso da força física contra os outros. Todos têm o direito de usar a força física apenas em retaliação e apenas contra aqueles que iniciam seu uso.
O único propósito moral adequado de um governo é proteger os direitos das pessoas e protegê-las da violência física—proteger o direito delas à vida, à liberdade, à propriedade (sem os direitos de propriedade, nenhum outro direito é possível) e à busca da felicidade.
Não tentarei aqui discutir a teoria política do Objetivismo. Direi apenas que cada sistema político é baseado em uma teoria ética—e que a ética Objetivista é a base moral do capitalismo. Quando digo “capitalismo”, quero dizer o capitalismo puro e desregulamentado, do tipo laissez-faire. É claro que um sistema puro de capitalismo jamais existiu. Mas o capitalismo não é um sistema do passado; é o sistema do futuro—se a espécie humana tiver futuro.
Apresentei aqui os fundamentos mais simples de meu sistema, suficientes para indicar de que maneira a ética Objetivista é a moralidade da vida e se contrapõe às três principais escolas de teoria ética—a mística, a social e a subjetiva, que representam a moralidade da morte.
Não é a imoralidade das pessoas que é responsável pelo colapso que ameaça destruir o mundo civilizado, mas o tipo de moralidade que as pessoas têm sido incitadas a praticar. É possível mudar. Quem estabelece nossos objetivos e determina nosso rumo é a filosofia; é apenas a filosofia que pode salvar-nos agora. O mundo está enfrentando uma escolha: se a civilização deve sobreviver, é a moralidade altruísta que os homens precisam rejeitar.
A ética nas situações de emergência
Alguém deve arriscar sua vida para ajudar um homem que está se afogando ou está encurralado no meio do fogo?
O altruísmo não dá uma resposta racional a essa pergunta, porque destruiu o conceito de benevolência e a boa vontade autêntica ao elevar a ajuda aos outros à condição central e básica da ética. Valorizar o ser humano e ter qualquer interesse pessoal pelos outros se torna um ato de abnegação, de sacrifício próprio. Sendo assim, qualquer amor, respeito ou admiração pelos outros não é fonte de prazer, mas uma ameaça à existência.
O princípio racional de conduta é exatamente o oposto: agir sempre de acordo com a hierarquia dos seus valores. Sem essa hierarquia não é possível uma conduta racional, nem juízos de valor e nem escolhas morais.
O amor e a amizade são valores profundamente pessoais e egoístas: o amor é uma expressão da auto-estima e uma resposta aos valores pessoais em outra pessoa. Um amor “abnegado” ou “desinteressado” é uma contradição de termos: implica que se é indiferente ao que se valoriza. Portanto, a preocupação com o bem estar de quem se ama é parte racional dos interesses egoístas de alguém.
O método adequado de julgar quando ou se devemos ajudar outra pessoa é a referência ao nosso próprio auto-interesse racional e à nossa hierarquia de valores: o esforço que se dá, ou risco que se corre, deve ser proporcional ao valor da pessoa em relação à nossa própria felicidade.
Voltando ao exemplo de salvar uma pessoa que está se afogando. Se ela é um estranho, só é moralmente adequado salvá-la quando o perigo para a nossa própria vida é mínimo; quando o perigo é grande, é imoral tentar. Somente a falta de auto-estima pode permitir que alguém não valorize mais a sua vida do que a de um estranho qualquer.
A virtude envolvida em ajudar aqueles que se ama não é “abnegação” ou “sacrifício”, mas integridade—a lealdade para com as convicções e valores que se tem. O homem racional não esquece que a vida é a fonte de todos os valores e, como tal, é a fonte, não apenas de todos os seus valores, mas de sua capacidade de valorar. É desta boa vontade e do respeito pelo valor da vida humana que se ajudam estranhos em uma situação de emergência—e apenas em uma situação de emergência.
Em condições normais da existência, o homem tem de escolher as suas metas e atingi-las por seu próprio esforço e não pode viver a sua vida orientado por regras aplicáveis apenas às condições sob as quais a sobrevivência humana é impossível.
Pobreza, ignorância e doença não são emergências metafísicas. Os valores de que o homem precisa—como riqueza ou conhecimento—não lhe são dados como um presente da natureza. Têm que ser descobertos e conquistados pelo seu próprio esforço. A única obrigação que se tem com relação aos outros é manter um sistema social que deixe os homens livres para conquistarem e manterem os seus valores.
Todo código de ética é baseado na metafísica—uma teoria sobre a natureza fundamental do universo no qual o homem vive e age. A ética altruísta é baseada em uma metafísica de “universo malévolo”, em que o homem, por natureza, é desamparado e condenado. Sucesso, felicidade e conquista lhe são impossíveis; emergências e catástrofes são a norma da sua vida. Sua meta primordial é combatê-las. Os altruístas não são capazes de basear a sua vida numa existência normal e sempre oferecem como exemplos situações do tipo “bote salva-vidas”, a partir das quais deduzem regras de conduta moral. Mas não se vive em barcos salva-vidas—nem um barco salva-vidas é o lugar em que se deve buscar a metafísica.
O propósito moral da vida de um homem é a conquista da própria felicidade. Isso não implica indiferença para com os outros, que a vida humana não tenha valor para ele e que não tenha motivo para ajudar outros em uma emergência. Mas implica também que não deve subordinar sua vida ao bem-estar dos outros; que qualquer ajuda seja uma exceção, não a regra—um ato de generosidade, não de obrigação moral; que esses atos sejam incidentais, como são os desastres no curso da existência humana; e que valores, não desastres, sejam a meta, a primeira preocupação e a força motivadora da vida.
Os “conflitos” de interesses entre os homens
Os que não entendem o princípio Objetivista de que “não existem conflitos de interesse entre homens racionais” argumentam: “Suponha que dois homens se candidatam ao mesmo emprego. Apenas um pode ser empregado. Não há um conflito de interesses, e um deles não se beneficiará à custa do sacrifício do outro?” Para responder a essa pergunta é preciso atentar para quatro considerações: (a) “Realidade”, (b) “Contexto”, (c) “Responsabilidade”, (d) “Esforço”.
1. Realidade. Os “interesses” dependem das metas que uma pessoa escolhe; a escolha de metas depende dos seus desejos; e estes, dos seus valores. O fato de alguém desejar algo não quer dizer que o objeto do desejo seja bom, nem que satisfazê-lo é de seu interesse.
A escolha das metas de um homem racional é sempre guiada pela razão, e não por sentimentos ou desejos. “Porque eu quero” não é motivo para validar seus atos. Ele só age depois que um desejo passa pelo crivo da razão e que possa dizer: “Eu quero isto porque é certo”.
Um homem racional sabe também que não pode ter valores contraditórios ou identificá-los com seus interesses. Só os que desprezam a razão—os místicos ou os subjetivistas—se permitem viver em um perpétuo conflito e com seus supostos interesses em permanente choque, entre si, e com os interesses dos outros.
2. Contexto. Um homem racional não vive apenas o momento. Ele não permite conflitos entre seus interesses atuais e futuros, nem busca satisfazer hoje o desejo que destruirá os valores, amanhã.
Da mesma forma, não tem desejos divorciados dos meios de atendê-los. A vida em sociedade não isenta o homem da responsabilidade de viver por seu próprio esforço. Mas permite minimizar esse esforço ao trocar o que produz pelo que não produz, e é produzido pelos outros. O que determina seus ganhos? O mercado livre, isto é: a escolha voluntária dos outros homens de trocar com ele o que produzem.
3. Responsabilidade. A racionalidade humana requer que se assuma a responsabilidade de encontrar os meios necessários para que alcancemos nossos objetivos. A maioria das pessoas foge dessa responsabilidade e se condena a frustrações e fracassos. Essas pessoas apenas “desejam”, esperando que algo aconteça—como a pessoa que quer ser rica, mas não pensa em por que meios, ações e condições pode alcançar a riqueza.
Outras ficam indignadas com o mundo e “solucionam” mentalmente seus problemas. À questão “Quem pagará pela solução?”, respondem: “Isso não é da minha conta. Minha responsabilidade é dizer apenas o que deve ser feito. O pagamento não é comigo”. É com esse argumento que são propostas as “reformas sociais” que muitas vezes trazem apenas destruição ao mundo.
Quem não é responsável pela própria vida e por seus próprios interesses, não leva em conta os interesses e a vida de outros—ignorando que esses outros, pela cooperação social, são também responsáveis pela satisfação dos seus desejos.
(d) Esforço. Um homem racional sabe que os benefícios da riqueza resultam dos seus esforços e de cada um—que nada existe em quantidade limitada e fixa, à espera de alguém que a distribua entre os homens. Se os benefícios têm de ser produzidos, o ganho de um não implica o sacrifício de outro, mas também não implica que devamos depender dos outros para atender nossos interesses.
Os parasitas temem os concorrentes porque não acreditam que possam ganhar a vida por mérito próprio. Vêem-se como medíocres e descartáveis; vêem o mundo à sua volta “estático”, e julgam que vivem pelo benefício sem causa de alguém. Um homem racional sabe que não se vive só de “sorte” ou favores e que não há uma “única chance” ou oportunidade e que nenhuma meta específica é insubstituível. Sabe que apenas as pessoas que ama são insubstituíveis—e só essas.
Retornemos agora à pergunta original sobre os dois candidatos ao mesmo emprego, e observemos de que maneira ela ignora ou opõe às quatro considerações que fiz anteriormente.
3. Realidade. O fato de dois homens disputarem o mesmo emprego não significa que qualquer deles esteja qualificado para a função, ou que a mereça, ou que seus interesses sejam prejudicados, se não a preencher.
4. Contexto. Ambos devem saber que o emprego que desejam só existe porque alguém criou o emprego. Se houvesse apenas um candidato não haveria mais emprego, já que o negócio teria fechado suas portas. Além disso, a competição pelo emprego é de seu interesse, muito embora um dos candidatos perca nessa ocasião específica.
1. Responsabilidade. Ninguém tem o direito moral de dizer que quer apenas um emprego e não se importa com o resto. Quem ignora o que é necessário para que seus desejo se materializem não tem direito a nenhum desejo.
2. Esforço. Quem obteve o emprego, o fez por seu próprio mérito, não pelo “sacrifício” do outro candidato, que nunca teve nenhum direito adquirido sobre o emprego. O fracasso em dar a um homem o que nunca lhe pertenceu dificilmente pode ser descrito como “sacrificar seus interesses”.
A vida não requer um compromisso?
Compromisso é a composição de demandas conflitantes por meio de concessões mútuas. Para que exista um compromisso, é necessário que haja uma demanda válida, um valor que possa ser oferecido reciprocamente e que as partes concordem com o princípio que serve de base à negociação.
Não pode haver compromisso entre o dono de uma propriedade e um ladrão; um “compromisso” nesse caso é o reconhecimento do direito deste sobre a propriedade daquele. Que valor ou concessão o ladrão ofereceu em troca? Quando o princípio da concessão unilateral é aceito como base de um relacionamento, é apenas questão de tempo antes do ladrão se apodere de tudo.
Não pode haver compromisso entre a liberdade e o controle governamental. Aceitar “apenas um pouco de controle” é renunciar ao princípio dos direitos individuais inalienáveis e substituí-lo pelo princípio do poder arbitrário e ilimitado do governo.
Não pode haver compromisso quanto a princípios básicos ou questões fundamentais. O que é um “compromisso” entre a vida e a morte? Ou entre a verdade e o erro? Ou entre a razão e a irracionalidade?
Hoje, entretanto, quando as pessoas falam de “compromisso”, o que querem dizer é a rendição unilateral a qualquer reivindicação irracional e infundada. A raiz desta doutrina é o subjetivismo ético, que faz de um capricho uma base moral irredutível; que faz com que todos os desejos tenham a mesma validade moral, e que a única maneira pela qual os homens podem conviver bem, juntos, é submetendo-se a qualquer coisa e “comprometendo-se” com qualquer pessoa.
A integridade não consiste na lealdade aos caprichos subjetivos de alguém, mas a princípios racionais. Nesse contexto, um “compromisso” (no sentido inescrupuloso desta palavra) não significa abandonar o conforto pessoal, mas as próprias convicções.
Não pode haver nenhum compromisso com relação a princípios morais. Se você fica tentado a perguntar: “A vida não exige um compromisso”? Traduza a pergunta para o seu real significado: “A vida não exige a rendição daquilo que é verdadeiro e bom ante o falso e o mau?
Como levar uma vida racional numa sociedade irracional?
A resposta a esta pergunta requer apenas um princípio fundamental, infelizmente desprezado hoje: não se deve nunca falhar ao manifestar um julgamento moral.
Vivemos sob o agnosticismo moral, o preceito de que não se deve fazer um julgamento moral dos outros. O problema é: nada corrompe e destrói uma cultura ou o caráter de um homem tão completamente quanto o agnosticismo moral, que leva as pessoas a abster-se igualmente de elogiar as virtudes e condenar os vícios. Essa atitude reflete enorme injustiça, só explicável pelo fato de que passar um julgamento moral é uma enorme responsabilidade.
Só o cinismo amoral de nossa era permite que alguém se sinta livre para fazer um julgamento irracional, sem arcar com as conseqüências. A realidade objetiva é a instância superior de nossos juízos. É o medo dessa responsabilidade que leva a maioria das pessoas à neutralidade moral indiscriminada e a dizer: “Não julgue, para não serdes julgado”.
Não há como escapar das escolhas que devemos fazer; como temos de fazer escolhas, não há como escapar dos valores morais; e enquanto estiverem em jogo valores morais, nenhuma neutralidade moral é possível. O princípio moral a se adotar nesta questão é: “Julgue e esteja preparado para ser julgado”.
Tolerância indiscriminada e condenação indiscriminada não são dois opostos: são duas variantes do mesmo subterfúgio e uma fuga da responsabilidade do julgamento moral. Se as pessoas não dissessem que um delinqüente juvenil “precisa de amor”, que um criminoso “não conhece nada melhor” ou que os comunistas são simplesmente “reformistas agrários”, a história teria sido diferente. Além disso, dizer que “ninguém está totalmente certo ou totalmente errado” e “quem sou eu para julgar?” têm efeitos letais. À medida que aumenta a neutralidade moral, cresce a solidariedade com o vício e o antagonismo para com a virtude.
Uma sociedade irracional é uma sociedade de covardes morais, paralisados pela perda de critérios, princípios e diretrizes morais. Nessa sociedade, a iniciativa só pode vir dos que estão dispostos a assumir a responsabilidade de estabelecer valores racionais—ou de um facínora, que não está preocupado com questões de responsabilidade.
O culto da moral indefinida
Um dos sintomas mais eloqüentes da falência moral da cultura atual é a atitude que se pode resumir como: “Não há preto nem branco, há apenas ‘cinzas’”, como se fosse possível haver o cinza, sem o preto e o branco.
Uma variante do tema é a afirmação de que “ninguém é perfeito neste mundo”—ou seja, que todos são uma mistura de bem e mal e, portanto, moralmente “cinzas”. Se o homem é “cinza” por natureza, nenhum conceito moral se aplica a ele, incluindo “cinzento”, e não pode haver moral alguma.
Há muitas razões para a maioria das pessoas serem moralmente imperfeitas, isto é, manterem valores contraditórios e confusos. Mas é o fato da maioria das pessoas serem moralmente “cinza” que torna mais imperiosa a necessidade do homem ter uma moral “branca”.
Assim como em epistemologia o culto da incerteza é uma revolta contra a razão—também, na ética, o culto da moral cinzenta é uma revolta contra os valores morais. Ambos são uma revolta contra o absolutismo da realidade. E assim como o culto da incerteza não pode ter sucesso numa rebelião aberta contra a razão, e luta para elevar a negação da racionalidade a algum tipo de raciocínio superior, da mesma forma o culto da moral indefinida não pode ser bem-sucedido numa rebelião aberta contra a moralidade, e luta para elevar a negação da moralidade a um tipo superior de virtude.
Este culto é uma negação da moralidade, mas esse não é o objetivo de seus adeptos. O que eles procuram é algo ainda mais irracional: uma moralidade não-absoluta, fluida, elástica, de meio termo. Não se dizem “além do bem e do mal”, mas procuram preservar as “vantagens” de ambos. Não constituem uma escola de pensamento; são o produto típico da omissão filosófica—da falência intelectual que produziu o irracionalismo, na epistemologia; o vácuo moral, na ética; e a economia mista, na política.
Observe as conseqüências dessa amoralidade. Na política, que o termo extremismo tornou-se um sinônimo de “mal”, independentemente do conteúdo da questão (o mal não é sobre o que você é “extremista”, mas que você é extremista—isto é, coerente).
Na literatura, o anti-herói, cuja distinção é não ter distinção—nem virtudes, nem valores, nem objetivos, nem caráter, nem significação, e que ocupa o lugar do herói, mesmo que não faça nada e não vá a lugar nenhum.
Em uma economia mista, homens de premissas mistas devem ser chamados de “cinzas”; mas, em ambos os casos, a mescla não permanece “cinza” por muito tempo. O “cinza” é simplesmente um prelúdio para o “preto”.
Pode haver homens “cinzas”, mas não pode haver princípios morais “cinzas”. A moral é um código de preto e branco.
A ética coletivizada
Ouvimos com freqüência a pergunta: “O que será feito pelos pobres e deficientes numa sociedade livre?” A premissa implícita do altruísta-coletivista é que o infortúnio de uns é uma hipoteca a ser paga pelos outros. Observe que a pergunta não é: “Alguma coisa deve ser feita?”, mas: “O que será feito?”, como se a premissa coletivista tivesse sido tacitamente aceita e só restasse discutir os meios de implementá-la.
O que nos interessa discutir aqui é a premissa coletivista de considerar esta questão como política, como um problema ou um dever da “sociedade como um todo”. Sabemos que a natureza não garante segurança automática, sucesso e sobrevivência para ninguém. Portanto, só a presunção ditatorial e o canibalismo moral do código altruísta-coletivista permitem a alguém fantasiar que pode garantir esta segurança a alguns homens à custa de outros.
Aceitar que a “sociedade” deve fazer algo pelo pobre, implica aceitar a premissa coletivista de que a vida do pobre pertence à sociedade. Essa atitude revela um mal mais profundo: o altruísmo corrói a compreensão dos conceitos de direitos e do valor da vida de um indivíduo; revela uma mente da qual se apagou a realidade de um ser humano.
Um homem que está disposto a servir como meio para outros fins, necessariamente considerará os outros como meios para seus fins. Quanto mais altruísta ele for, mais criará esquemas “para o bem do gênero humano ou da sociedade”, “do público” ou “das gerações futuras”, ou de qualquer coisa, exceto seres humanos reais—esquemas a serem impostos por meios políticos, isto é, pela força, sobre um número ilimitado de seres humanos.
A pergunta que ninguém responde sobre todos os objetivos públicos “desejáveis” é: para quem? Desejos e objetivos pressupõem beneficiários. A próxima vez que você encontrar um desses sonhadores “com espírito público”, que lhe dirá com rancor que “alguns objetivos muito desejáveis não podem ser atingidos sem a participação de todos”, diga-lhe que, se ele não puder obter a participação voluntária de todos, seus objetivos ainda serão excelentes, mas inatingíveis, e que as vidas dos homens não estão à sua disposição.
Os construtores de monumentos
Há sessenta anos atrás, deve ter havido alguma desculpa (sem justificativa) para a crença de que o socialismo é uma teoria política que aspira ao bem-estar dos homens. Hoje essa crença não pode ser considerada um erro inocente. O socialismo foi tentado em cada continente do globo; à luz de seus resultados, está na hora de perguntar os motivos dos defensores do socialismo.
A característica essencial do socialismo é a negação dos direitos da propriedade individual—o direito de uso e controle da propriedade é outorgado à “sociedade como um todo” (isto é, torna-se coletivo), mas não ao povo. O socialismo não é um movimento do povo. É um movimento de intelectuais que se uniram com seus aliados e executores: os facínoras. Qual é então o motivo destes intelectuais? Primeiro, a ânsia do poder; segundo, a caça de benefícios materiais imerecidos por parasitas financeiros, vagabundos, saqueadores e criminosos.
Os slogans dos intelectuais incluem as expressões “o público”, “o interesse público”, “o serviço ao público”. Como “o público” não é uma entidade, como você e eu, qualquer conflito entre o “interesse público” e interesses privados implica no sacrifício dos interesses de muitos em benefício de alguns—quase sempre de gangues que podem dizer, e fazer valer a ponta de faca, “o público c’est moi”.
Sabe-se que a grandiosidade depende do esforço produtivo da mente de um homem. Uma ilusão de grandeza, contudo, pode ser realizada pela quimera de um monumento público, apresentado como um presente generoso às vítimas, e dedicado ao serviço de todos e de ninguém, pertencente a todos e a ninguém, admirado por todos e aproveitado por ninguém.
O horizonte de Nova Iorque é um monumento de um esplendor a que nenhuma pirâmide ou palácio poderá se igualar. Mas os arranha-céus não foram construídos com fundos públicos, nem com um propósito público: foram construídos por pessoas comuns visando o lucro pessoal.
Esta é a diferença entre o capitalismo e o socialismo. A ideologia da socialização (numa forma neofascista) está atualmente flutuando, por negligência, no vácuo de nossa atmosfera cultural e intelectual. Observe a freqüência com que nos pedem “sacrifícios” indefinidos para propósitos não-especificados, ou com que o governo invoca o “interesse público”. Observe como adquiriu proeminência a questão do prestígio internacional.
Ao julgar o socialismo, lembre-se de que não há dicotomia entre “direitos humanos” e “direito de propriedade”. Nenhum direito humano pode existir sem direito à propriedade. Se quem produz não possui o resultado de seu esforço, não possui a própria vida, que se torna propriedade do Estado. Quem reivindica o “direito” de “redistribuir” a riqueza produzida por outros, está reivindicando o “direito” de tratar os seres humanos como um objeto.
Ao julgar a devastação causada pelo socialismo—nazista ou comunista—o mar de sangue e os milhões de vítimas, lembre-se de que elas não foram sacrificadas pelo “bem da humanidade”, mas pela vaidade envenenada de quem almejou um manto de “grandeza” imerecida—e que o monumento ao socialismo é uma pirâmide de prédios públicos, erigidos sobre a fundação de um cadáver humano, com a figura do dirigente posando no alto, batendo no peito e gritando sua justificativa pelo “prestígio” ao vazio sem estrelas abaixo dele.
Os direitos do homem
“Direitos” são conceitos morais que permitem a transição lógica dos princípios que orientam as ações de um homem para os princípios que guiam o seu relacionamento com os outros. É o conceito que preserva e protege a moralidade individual em um contexto social; a ligação entre o código moral de um homem e o código legal da sociedade; entre a ética e a política. Os direitos individuais são o meio de subordinar a sociedade à lei moral.
A história foi dominada por uma variante ética da doutrina altruísta-coletivista, que subordinava o indivíduo a alguma autoridade superior, mística ou social. A moralidade era um código aplicável ao indivíduo, mas não à sociedade, que pairava fora da lei moral por ser considerada como a fonte da ética.
A realização mais profunda da Revolução Americana foi a subordinação da sociedade à lei moral. O princípio dos direitos individuais estendeu a moralidade ao sistema social—como limitação ao poder do Estado, como proteção do homem contra a força bruta do coletivo, como subordinação da força ao direito. Os Estados Unidos foram a primeira sociedade moral da História.
Antes, o homem havia sido considerado como meio para os fins dos outros, e a sociedade como um fim em si mesma. A Revolução Americana considerou o homem como um fim em si mesmo, e a sociedade como um meio para a coexistência pacífica e voluntária dos indivíduos. Antes, considerava-se que a vida de um homem pertencia à sociedade e que a liberdade do homem era concessão da sociedade, revogável a qualquer tempo. A Revolução Americana introduziu a noção de que a vida de um homem é dele por direito (o que significa: por princípio moral e por sua natureza); que um direito é propriedade de um indivíduo; que a sociedade, como tal, não tem direitos; e que o único propósito moral de um governo é a proteção dos direitos individuais, entendido “direito” como um princípio moral que nomeia e sanciona a liberdade de ação de um indivíduo em um contexto social. Há apenas um direito fundamental (todos os outros são conseqüências ou corolários): o direito de um homem à sua própria vida.
O conceito de “direito” se refere apenas à liberdade de ação: implica estar livre de toda compulsão física, coerção ou interferência de outros homens. Para cada indivíduo, um direito é a sanção moral de tipo positivo—de sua liberdade de agir por seu próprio juízo, para seus próprios objetivos, por sua própria escolha voluntária, sem coação. Quanto aos seus concidadãos, os direitos de um indivíduo não impõem nenhuma obrigação, exceto de um tipo negativo: absterem-se de violar os direitos dos outros.
Se o direito à vida é a fonte de todos os direitos, o direito à propriedade é a única forma de implementá-lo. Sem direitos de propriedade, nenhum outro é possível. O homem que produz, enquanto outros dispõem de seu produto, é um escravo.
O direito à propriedade não é o direito a um objeto, mas à ação e às conseqüências de produzir ou ganhar aquele objeto. Não é uma garantia de que o homem obterá qualquer propriedade, mas apenas uma garantia de que a terá, se a ganhar.
O ser humano é uma entidade de um tipo específico, um ser racional; ele não funciona de maneira exitosa sob coerção, e seus direitos são uma condição necessária do seu modo particular de sobrevivência. Violar os direitos do homem implica compeli-lo a agir contra o seu próprio julgamento e a expropriar seus valores. Só há uma maneira de fazer isso: pelo uso da força. Há dois violadores potenciais dos direitos do homem: os criminosos e o governo. A grande realização dos Estados Unidos foi traçar uma distinção entre os dois—proibindo ao segundo a versão legalizada das atividades dos primeiros.
“Direitos” coletivizados
“Direitos” são um princípio moral que define relacionamentos sociais corretos. Se um homem precisa de um código moral para sobreviver, a sociedade precisa de princípios morais para organizar um sistema social harmonioso com a natureza do homem e com suas exigências para sobreviver. São igualmente imorais as noções de que “qualquer coisa está certa, porque eu escolhi fazê-la”, como “qualquer coisa que a sociedade faz é certa, porque a sociedade escolheu fazê-la”.
Quando “poder” se opõe a “direito” ocorre a substituição dos “Direitos do Homem” por “Direitos da Massa”. Em uma sociedade livre, os “direitos” de qualquer grupo são derivados dos direitos dos seus membros através da escolha individual e voluntária e do acordo contratual que formalizou seu agrupamento com vistas a propósitos específicos comuns.
Um grupo, como tal, não tem direitos. A noção de “direitos coletivos” (a noção de que direitos pertencem a grupos, não a indivíduos) significa que “direitos” pertencem a alguns homens, mas não a outros, e que o critério dessa posição privilegiada consiste na superioridade numérica.
Assim como a moralidade altruísta da qual é derivada, essa doutrina se baseia no misticismo: da fé, como o “direito divino dos reis”, ou na mística social de coletivistas modernos, que vêem a sociedade como um superorganismo, superior à soma de seus membros.
A natureza do governo
Governo é uma instituição que detém o monopólio de impor certas regras de conduta social em determinada área geográfica. Para viver em sociedade os homens precisam desta instituição—por quê?
Os dois grandes valores proporcionados pela vida em sociedade são: conhecimento e comércio. Só o homem pode transmitir e expandir o seu conhecimento; o conhecimento à sua disposição é maior do que o que qualquer indivíduo poderia adquirir no seu próprio tempo de vida; e todos obtêm um benefício incalculável do conhecimento descoberto por outros. O segundo grande benefício é a divisão do trabalho: ela capacita homens racionais, produtivos e independentes em uma sociedade racional, produtiva e livre, a devotar seus esforços a uma particular atividade e a comercializar com outros que se especializam em atividades diferentes.
Para que ocorra esse benefício mútuo em uma sociedade civilizada, a pré-condição é o reconhecimento dos direitos individuais e a exclusão da força física dos relacionamentos sociais.
O uso da força física não pode ser deixado ao arbítrio de cada cidadão: requer regras objetivas para julgar, regras objetivas para punir e procedimentos para excluir. Só uma multidão de linchadores tenta levar a julgamento crimes sem essas regras.
O governo é o meio de colocar o uso retaliatório da força física sob leis objetivamente definidas. Sob um sistema social adequado, qualquer um pode fazer qualquer coisa, exceto o que é legalmente proibido; um funcionário do governo não pode fazer nada, exceto o que é legalmente permitido. Este é a forma de subordinar a “força” ao “direito”, o conceito de “um governo de leis, e não de homens”.
Já que a proteção dos direitos individuais é o único propósito apropriado de um governo, ela é a única matéria adequada à legislação. Todas as leis devem ser baseadas em direitos individuais e voltadas à proteção destes: todas devem ser objetivas; os homens devem saber claramente o que a lei lhes proíbe fazer (e por que); o que constitui um crime; e em que penas incorrerão, se o cometerem.
A fonte da autoridade do governo é “o consentimento dos governados”. O governo é o agente dos cidadãos e que, como tal, não tem direitos, exceto os delegados pelos cidadãos para um propósito específico. Por seu turno, os cidadãos renunciam ao uso da força física e delegam ao governo o seu direito de autodefesa física, para que este seja cumprido de uma maneira objetiva e legalmente definida.
Em uma sociedade livre, os homens negociam entre si voluntariamente e, quando o elemento tempo está envolvido na relação, celebram contratos. Muitas vezes ocorrem conflitos na interpretação dos contratos. Isto leva a uma das mais importantes e complexas funções do governo: a de árbitro que decide disputas de acordo com leis objetivas.
O custeio do governo numa sociedade livre
Qual seria o método adequado de custear as despesas do governo numa sociedade livre? Numa sociedade livre, a taxação—ou, para ser mais exato, o pagamento pelos serviços governamentais—seria voluntária. Como os serviços inerentes a um governo—a polícia, as forças armadas, os tribunais—são necessários para os indivíduos e afetam diretamente os seus interesses, eles deveriam estar dispostos a pagar pelos serviços, assim como pagam por um seguro.
Existem muitos métodos possíveis de custeio voluntário do governo. Apenas a título de ilustração, avalie as seguintes possibilidades. Um dos serviços mais necessários, que só um governo pode prestar, é a proteção dos contratos firmados entre os cidadãos. Suponha que o governo só devesse reconhecer como legalmente válidos e exeqüíveis os contratos que tivessem sido segurados mediante o pagamento de um prêmio legalmente fixado sobre o valor do contrato. Este seguro não seria compulsório; não haveria punição legal para quem firmasse contratos sem seguro. Mas esses contratos não seriam legalmente exeqüíveis, se fossem quebrados; a parte prejudicada não poderia procurar reparação num tribunal. Outra opção seria aplicar um seguro, com um percentual irrisório, sobre todas as operações de crédito.
Um programa de custeio voluntário do governo seria suficiente para pagar as funções legítimas de um governo adequado. Esse princípio repousa nas seguintes premissas: o governo não é o proprietário do rendimento dos cidadãos; a natureza dos serviços apropriados do governo deve ser definida e delimitada constitucionalmente; e o governo deve ser considerado como um agente que deve ser pago por seus serviços, não como um benfeitor cujos serviços são gratuitos.
A premissa a ser contestada é a noção de que quaisquer serviços governamentais (até mesmo os legítimos) devem ser prestados aos cidadãos gratuitamente. O governo deve ser considerado como um servidor pago.
Quem não pode pagar (o custeio voluntário do governo), se beneficia de um bônus propiciado pelo custeio do governo pelos que podem pagar. Note-se que este tipo de bônus (um benefício indireto) não pode ser esticado para cobrir benefícios diretos, ou para reivindicar, como fazem os estatistas, que as contribuições diretas a quem não produz sejam proporcionais aos benefícios dos que produzem.
Todo tipo de bônus social ou de benefício gratuito só é possível numa sociedade livre e é adequado enquanto não implicar em sacrifício. Nesse tipo de sociedade, não haveria a possibilidade legal de qualquer “redistribuição de riqueza”, quer para o sustento imerecido de alguns pelo trabalho forçado e rendimento extorquido de outros, quer para a exploração dos que estão aptos a pagar os custos e manter uma sociedade civilizada em favor daqueles que são incapazes ou relutantes em pagar o custo de manutenção de sua própria existência.
A intimidação como argumento
Vivemos em uma selva epistemológica. Para evitar o debate, alguns se valem da intimidação do oponente em lugar de argumentar. Há duas vertentes principais. A primeira procura refutar um argumento questionando o caráter do oponente. A segunda afirma arbitrariamente a falsidade do argumento, que é oferecida como prova de sua imoralidade.
O que caracteriza o Argumento da Intimidação é o seu apelo à auto-incerteza moral e sua confiança no medo, culpa ou ignorância da vítima. O exemplo clássico do Argumento da Intimidação é a conhecida história As Roupas Novas do Rei.
Segundo a história, alguns charlatões vendem roupas inexistentes ao rei, afirmando que a beleza incomum destas torna-as invisíveis aos moralmente depravados de coração. Compradas as roupas, o rei prefere caminhar nu pela rua, a arriscar-se a incorrer em condenação moral por dois vigaristas. O povo, presa da mesma auto-incerteza moral, aplaude o rei—até que uma criança grita que o Rei está nu.
O modelo do Argumento da Intimidação é: “Para quem compreende, não há necessidade de explicação; para quem não compreende, não há nenhuma explicação”. Como resistir a esse Argumento? Existe apenas uma arma contra ele: a certeza moral. Em numa batalha intelectual, o único critério de julgamento deve ser a Verdade ou Falsidade—e não a aprovação ou desaprovação dos nossos oponentes.
Observe que o Argumento da Intimidação não consiste em introduzir julgamento moral em questões intelectuais, mas em substituir o julgamento moral pelo argumento intelectual. Um julgamento moral, porém, sempre deve seguir, e não preceder (ou substituir), as razões nas quais é baseado.
O Argumento da Intimidação mostra a importância de estar-se convicto das próprias premissas e motivos morais. Em questões morais e intelectuais, não é suficiente estar-se certo: deve-se saber que se está certo.
Ayn Rand
Alimente sua alma com mais:

Conheça as vantagens de assinar a Morte Súbita inc.
Faça parte do problema
Recursos Avançados
+ Área Restrita + Eventos Online.
R$37,00 por mês